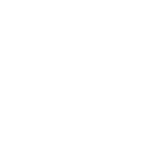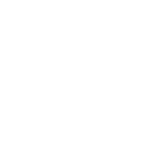Donald Trump é frequentemente enquadrado pela sua oposição com o vocabulário europeu do século XX, como se cada choque institucional ou frase agressiva fosse uma porta para o fascismo, originalmente uma ideologia de esquerda. O historiador Niall Ferguson sugere uma lente mais útil e mais incômoda: Trump não seria uma importação ideológica do Velho Mundo, mas um retorno a uma tradição americana anterior à globalização, quando Washington falava de poder com menos pudor, usava tarifas como instrumento estratégico e tratava o Hemisfério Ocidental como zona vital. É daí que nasce a ideia, hoje repetida em análises e bastidores, de uma "Donroe Doctrine": Trump Monroe.
A Doutrina Monroe, proclamada em 1823, não era um manifesto moral; era uma linha de demarcação de sua esfera de influência. As Américas seriam um espaço onde potências externas, ontem europeias, hoje também asiáticas, não deveriam projetar influência sem alto custo. O que muda com Trump não é o instinto, mas o estilo e a velocidade. Ele abandona a liturgia diplomática e troca a ambiguidade calculada e o moralismo por uma transparência agressiva, blunt and brazen, como quem proclama que não faz conversa fiada. A política externa ganha forma de rede social: frases curtas, inimigos nomeados, recados públicos. Só que, por trás do espetáculo, opera a lógica clássica do Estado americano: Pentágono, Tesouro, Justiça, sanções, inteligência, seguros, bancos, controle de tecnologia. Na nova combinação, a linguagem é nova; a engrenagem é antiga.
Niall Ferguson puxa o fio histórico para o fim do século XIX. William McKinley, símbolo do protecionismo, representa um tempo em que tarifas eram política industrial e arma de negociação. Para essa tradição, livre-comércio não é princípio inocente, mas sim ferramenta de contingência. Trump recupera esse repertório ao tratar tarifa como coerção: não apenas para "proteger empregos", mas para forçar rearranjos geopolíticos. Em especial, a contenção da China e seu espetacular progresso. A mensagem é simples: acesso ao mercado americano não é um direito, é uma concessão.
Theodore Roosevelt completa o quadro com músculo. Seu corolário à Doutrina Monroe legitima a ideia de "polícia do hemisfério": agir, intervir, pressionar para evitar que rivais finquem pé no entorno estratégico. O trumpismo retoma essa intuição em versão contemporânea: menos ocupação formal, mais estrangulamento por sanções, apreensões, bloqueios logísticos, perseguição financeira e demonstrações navais. Episódios recentes envolvendo petroleiros sob bandeiras sensíveis e o cerco a exportações de regimes hostis, ainda que disputados na narrativa pública, ilustram o método: impor custo e obrigar o adversário a explicar-se.
A ponte para o século XX vem com John F. Kennedy. Na crise dos mísseis de 1962, Kennedy combinou a linha vermelha com a saída possível: quarentena naval, pressão máxima, mas sem cruzar o ponto de não retorno. A comparação serve porque o mundo volta a uma reacomodação de poder global que ainda não tem nome. A Pax Americana, aquela ordem do pós-guerra, em que o guarda-chuva de Washington sustentava regras, comércio e segurança, perdeu exclusividade. O planeta se reorganiza por regiões tensas: Indo-Pacífico com China, Japão e Taiwan; Europa instável; Oriente Médio inflamável. E, quando a Europa, o Oriente Médio e o Indo-Pacífico esquentam, o Caribe também frita.
É aqui que a "Donroe" ganha sentido operacional. Se Pequim disputa rotas e padrões tecnológicos no Pacífico, também precisa de energia e minerais; se compra petróleo barato e procura diversificar fornecedores, o hemisfério americano vira parte da equação. A Venezuela, com petróleo e proximidade física dos EUA, passa a ser lida em Washington não como peça regional, mas como questão de segurança nacional. Some-se a isso a presença histórica de equipamentos e doutrinas militares russas em Caracas e as acusações recorrentes, nem sempre comprovadas, mas assustadoras, sobre vínculos com redes iranianas e proxies como o Hezbollah. Quando a distância é "dois mil quilômetros da Flórida", a tolerância estratégica tende a ser menor. E o próximo degrau lógico, na mentalidade de Guerra Fria, é Cuba: menos provável como teatro militar clássico, mais provável como aceleração do esgotamento, como parece ocorrer no Irã.
Outro vetor é o narcotráfico. O discurso americano sobre drogas não é apenas moralismo: virou tema de saúde pública, segurança interna e colapso social. Numa leitura mais dramática, às vezes exagerada, mas psicologicamente poderosa, a epidemia de opioides e o consumo destrutivo funcionariam como uma "guerra do ópio" às avessas: uma sociedade adoecida por dependência em massa, vulnerável à instabilidade e à perda de coesão. Para um presidente que faz política em modo blunt and brazen, esse é o tipo de causa que justifica medidas duras no entorno, com alto apoio doméstico.
A tentação brasileira é olhar tudo isso como barulho distante. É erro crasso. Se a ordem do pós-guerra acabou, o custo do improviso aumenta. A "Donroe" é, antes de tudo, um aviso: o hemisfério voltou ao centro, só que agora com tarifas, sanções e mensagens públicas sem verniz. Entender Trump por Monroe, McKinley, Roosevelt e Kennedy não é concordar com Trump. É reconhecer que, quando o mundo retorna às esferas de influência, quem insiste em ler o presente com o mapa da Pax Americana acaba atropelado pela realidade e, pior, sem perceber quando o preço começa a ser cobrado.
*Senior Fellow do Milken Institute, foi ministro do Turismo e secretário de Turismo e Viagens de São Paulo.