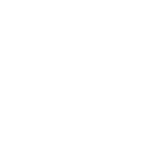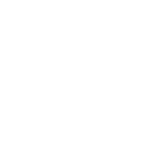Sem grande êxito em sua carreira em circuito, 'I Wanna Dance with Somebody', a biopic da cantora, ganha novos holofotes na streaminguesfera, via Netflix
Idealizado para ganhar o Oscar, lançado em meio ao Natal de 2022, "I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston" esbarrou numa inexplicável indiferença popular num circuito que ainda se recuperava dos efeitos da covid-19. Fez uma bilheteria estimada em US$ 60 milhões, mas se esperava o dobro ou o triplo, dada a popularidade de sua personagem central. O boca a boca não pegou fogo, apesar das críticas elogiosas. Só que no streaming, tal qual era nos tempos áureos da TV aberta, filmes que não estouraram em circuito o tanto que deveria viram a mesa e se firmam como fenômenos. Graças aos poderes de mobilização online da Netflix, essa biopic contagiante ganhou mais do que uma sobrevida: colou no olhar da massa de assinantes.
Diva da canção romântica - e também dançante - entre os anos 1980 e 1990, Whiney Houston (1963-2012) passou a fazer parte indelével da história do cinema quando "O Guarda-Costas" (1992) arrecadou US$ 411 milhões nas bilheterias consagrando um dos mais apaixonantes casais da telona, naquela era de RomComs (histórias de amor): ela e Kevin Costner. Pouco se fala da parceria da cantora com Forest Whitaker (que a dirigiu em "Falando de Amor") e com Denzel Washington (seu colega de cena em "Um Anjo Em Minha Vida"). Mas são filmes que, se somados, costuram uma trajetória cinematográfica singular que, no Brasil, sempre teve par no finíssimo trabalho de Mônica Rossi na dublagem dessa ave canora singular. Associa-se muito o nome de Whitney a uma ideia de tragédia, uma vez que seu fim foi dos mais tristes. Ela morre em 2012, afogada na banheira de um hotel, em decorrência do uso de drogas. Fora sua morte, ela é lembrada pelos hits que emplacou, entre eles a chacoalhante canção que dá vida à sua biografia, hoje em destaque no www.netflix.com.
Frenético, "I Wanna Dance with Somebody - A História de Whitney Houston" comove e, sobretudo, infla a nossa consciência de vigília antirracista. A tristeza faz parte dela, mas não é derruba. Temos um longa contagiante, escrito com a picardia de um dos bambas do roteiro o neozelandês Anthony McCarten.
Sua experiência em viradas e ganchos de cena tornou o cinema melhor (e mais rico) com "Bohemian Rhapsody", há cinco anos. Todas as manhas que ele empregou na história de Freddie Mercury - com especial destaque para um estudo dos chamados in-between moments, os períodos de hiato criativo, nos quais o vocalista do Queen imergia em excessos - estão no longa sobre Whitney, que é estrelado pela vulcânica Naomi Ackie, numa erupção contínua. Mas quem dá tônus, corpo, alma e identidade autoral ao filme é sua realizadora, Kasi Lemmons (de "Harriett"). A cineasta trouxe de seus trabalhos anteriores ("Amores Divididos", de 1997, foi o primeiro) uma predileção por figuras de percursos heroicos sempre fraturadas pela ausência de algo, talvez um sentido, talvez de uma paz interior.
Num diálogo primoroso, Whitney fala que os narcóticos são suas "férias", uma vez que na América onde fez seu legado desafiando tabus, "as mulheres negras estão cansadas". Esse tal cansaço a que se refere é um sinônimo de opressão - machista, homofóbica industrial. Kasi dá um olé nesses vetores opressivos acendendo o pavio de uma força da natureza que ganhou Discos de Diamante numa época de hegemonia branca. Presta, com isso, um tributo à peleja de Whitney para vencer pela força de seu gogó. Faz essa homenagem calçada na fotografia precisa de Barry Ackoryd e no bom desempenho de Stanley Tucci como o paternal produtor musical Clive Davis. Resultado: um espetáculo e tanto.
Falando de Netflix, a plataforma anda a sorrir à força da mobilização midiática que Omar Sy (de "Lupin") causa por lá, com "French Lover", de Lisa-Nina Rives, no qual ele contracena com Sara Giraudeau numa comédia romântica nos moldes de "Uma Linda Mulher" (1990).