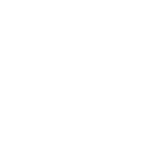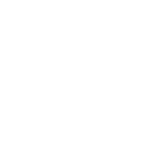Você menciona que o livro nasceu de um episódio pessoal de hostilidade no início da sua carreira. Que situação foi essa e como ela se conecta com o panorama mais amplo que você traz neste trabalho?
João Paulo Saconi - Foi uma reportagem publicada em 2019, que incomodou membros de um grupo político. Principalmente devido ao método, já que fui escalado para ser um repórter infiltrado num curso ministrado por uma pessoa do grupo. Como toda produção jornalística, a matéria era passível de críticas, mais duras ou menos. Faz parte do trabalho intelectual consumido pelo público. Mas as críticas se transformaram em ataques à honra, mensagens vexatórias e numerosas ameaças de morte. Me vi obrigado a mudar de endereço, de função no trabalho e até a andar disfarçado na rua, já que meu rosto estava amplamente exposto nas redes sociais. Olhando para o lado, vi que outros e outras colegas passavam por situações semelhantes. Resolvi pesquisar o fenômeno da violência contra a imprensa na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde concluí um mestrado. A dissertação produzida na faculdade foi agora transformada no livro.
Qual foi o achado mais surpreendente ou chocante que veio à tona a partir de seu trabalho de pesquisa?
Foi chocante perceber que jornalistas do Brasil vivem sob uma atmosfera de medo, como aquela que eu conheci em 2019. São profissionais submetidos, em maior ou menor grau, a agressões físicas e verbais; atentados e tentativas de assassinato; vazamento de dados; ataques cibernéticos e destruição de reputações, entre outras formas de ódio. De 1998 para cá, a Federação Nacional dos Jornalistas, que faz um excelente mapeamento anual desse fenômeno, catalogou mais de 3 mil casos contra profissionais da mídia. E 78% deles estavam concentrados na década iniciada em 2013, na qual me aprofundo no livro. É um sintoma de que o ódio tem sido uma temática frequente no ambiente jornalístico.
Você tem 29 anos, é um jovem repórter. Em algum momento imaginou que nós, profissionais da imprensa, passaríamos por situações desta natureza em pleno regime democrático?
As democracias não são perfeitas, nem aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Historiadores, filósofos, sociólogos e outros pesquisadores têm esse diagnóstico melhor desenhado do que eu, jornalista. No meu campo, o que me coube foi entender o papel central do jornalismo nas democracias de hoje, permeadas pelas redes sociais. Busquei, então, a literatura do meu orientador, Muniz Sodré, emérito da UFRJ, a respeito do que o professor (e a professora Raquel Paiva, companheira de vida dele) chama de "sociedade incivil". É essa forma social em que a população não se vê representada nas instituições tradicionais, como a escola, a religião e a política. E, no meu campo, o jornalismo. Neste contexto, é perfeitamente possível que, mesmo numa democracia, profissionais da imprensa vivam experiências hostis. É claro, no entanto, que só fui adquirir essa compreensão graças ao estudo.
Você revela que a hostilidade altera como os jornalistas pensam pautas e coberturas, o que, na prática, é a autocensura. Como ela compromete a qualidade da informação que chega ao público?
Quem mostra que a violência afeta a cobertura da imprensa são os próprios jornalistas. Dos 203 que responderam à pesquisa do livro, 39% afirmaram que deixaram de produzir pautas específicas ou de abordar determinados temas com medo de se tornarem vítimas (ou de as agressões se repetirem). É um prejuízo incalculável para leitores, espectadores e usuários da internet, uma vez que a matéria-prima do jornalismo é o interesse público. A pesquisa também mostra como há profissionais que se sentem inseguros quando portam os próprios crachás que os identificam como repórteres. Mais do que isso: jornalistas que sequer se sentem à vontade afirmando cotidianamente que são jornalistas.
Dos jornalistas perseguidos que você destaca notam-se nomes como os de Vera Magalhães, Patrícia Campos Mello, Raquel Landim, Natuza Nery, uma presença significativa de mulheres. A violência contra jornalistas tem recorte de gênero?
O gênero foi citado como preponderante para as agressões recebidas por quase 39% dos jornalistas que busquei na pesquisa. São, claro, respostas vindas de profissionais mulheres. Elas entenderam que, por serem representantes femininas da classe, se tornaram alvo daquela agressividade. O machismo também fica nítido quando as personagens vão aparecendo a cada capítulo do livro: das sete histórias que conto em profundidade, quatro são de mulheres. E as agressões destinadas a elas são misóginas, quase sempre. Comentários pejorativos com foco em tópicos físicos (a aparência delas, sobretudo) e até sexuais, com insinuações e montagens absolutamente mentirosas, fazem parte desse arsenal.
O título do livro reproduz uma expressão que revela como a sociedade vê os jornalistas como "uma parcela à parte do Brasil", quase um fosso identitário. Como mudar isso?
"Vocês da imprensa" é uma expressão muito utilizada por personagens e pelo público do noticiário, como se a imprensa fosse uma exterioridade. Uma parcela à parte da sociedade. É a maneira que muita gente da política, em cargos de autoridade ou da militância, encontrou para se referir aos jornalistas como uma categoria à margem — inclusive dos direitos, que acabam livremente vilipendiados nos casos de ódio que conto no livro. Superar esse separatismo é um exercício coletivo. De nós, que produzimos e consumimos o noticiário, e podemos nos conscientizar de maneira aprofundada sobre a importância de valorizar o jornalismo profissional. E de quem, embora prefira fontes alternativas de notícias, se sente livre ao atacar a imprensa e seus profissionais. É preciso lembrar que, por trás de uma manchete, há um ser humano. Da mesma maneira que, na outra ponta dela, existe milhares de "alguéns" sendo impactados por uma publicação. E, claro, figuras que são retratadas naquelas páginas. A equação é complexa, mas pode ser solucionada com sensibilidade e respeito.