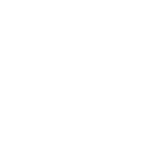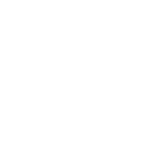Jornalista com passagens por veículos como Rede Globo, O Globo e O Estado de S. Paulo, Beatriz Coelho Silva é mestre em Letras com especialização em História do Brasil. Uniu o gosto pela apuração com o rigor científico em seus trabalhos editorais. Sua obra mais recente, "Quando vem da alma de nossa gente – Sambas da Praça Onze", é a continuidade natural do trabalho anterior da autora, "Negros e Judeus na Praça Onze", que foi adaptado para musical homônimo. Na conversa a seguir, ela fala ao Correio da Manhã do resultado das pesquisas realizadas em torno de um espaço que cidade pôs abaixo, mas que sobrevive no imaginário coletivo através de sambas de todos os tempos.
Seu mais novo livro surge como uma continuidade do seu trabalho anterior sobre a Praça Onze. De onde nasceu esse interesse específico na região?
Beatriz Coelho Silva - Sempre gostei de samba e, há uns 40 anos, li o livro de Roberto Moura, "Tia Ciata e a Pequena África do Rio de Janeiro", acho que o primeiro título sobre o bairro. Me encantei pelo assunto. No início dos anos 2000, soube pelos filhos de Samuel Malamud, um líder da comunidade judaica carioca, que os judeus também chegavam na Praça Onze, como, aliás, boa parte dos imigrantes pobres que aportavam ao Rio na primeira metade do século XX. Havia judeus, árabes, ciganos, espanhóis, brasileiros brancos e negros vindos de vários Estados, gente que fugia da fome, de perseguições religiosas, étnicas ou políticas, às vezes, de tudo isso. Fiquei interessada nessa mistura que, como diz o escritor Ronaldo Wrobel (judeu e autor do romance "Traduzindo Hannah"), tornava o bairro cosmopolita, mas um cosmopolitismo pobre. Muitas religiões, costumes, culinárias, idiomas e sotaques misturados, uma verdadeira pororoca, cuja maior expressão é o samba. O samba tem semente negra, mas muitos outros elementos o compõem. Não haveria samba sem a música dos negros, mas o samba é mais que isso.
E o que a motivou a revisitar e aprofundar a história desse local tão emblemático, desta vez sob uma narrativa poética-musical?
Em 2015, lancei o livro "Negros e Judeus na Praça Onze - A história que não ficou na memória". Àquela época, pouca gente falava de judeus (ou outros grupos culturais que não os negros) no bairro. E havia um movimento entre os judeus nascidos após a demolição da Praça Onze, de retomá-la como território de sua História. Então, o livro vendeu muito, cerca de 2.000 exemplares e só não vende mais porque está em poucas livrarias. Pensei em fazer um filme sobre o livro, mas é muito caro e difícil. Aí, produzi uma peça de teatro "Negros e Judeus na Praça Onze – o musical", em 2017. Como não sou dramaturga, usei as músicas sobre Praça Onze para contar a história. Assim, tem "Conversa de Botequim" para falar dos bares (Noel Rosa frequentava), "Batuque na Cozinha" para falar das festas (João da Baiana é nascido lá) e por aí vai. Paulão 7 Cordas fez a direção musical e produziu versões instrumentais das músicas. Teve récitas lotadas e a peça está aí, para quem quiser montar. Uma professora da Letras da UFRJ, Luciana Nascimento, levou os alunos para assistir e fazer um trabalho e me disse: "Essas músicas são crônicas, faça um mestrado com elas". Este livro é a dissertação reescrita em linguagem de gente porque o texto acadêmico é muito chato, né?
O livro disseca 14 canções que criaram uma mitologia sobre a Praça Onze, uma mitologia que perdura até hoje . Como você chegou a esse repertório?
Tem uma inglesa muito interessante, Daniella Thompson, cujo blog lista as músicas sobre a Praça Onze durante o século XX. Procurei as músicas no youtube e usei as que me interessavam. No livro, tem músicas de 1930 a 1982, mas foram feitas canções antes e depois sobre a Praça Onze.
Você descreve a Praça Onze como um lugar cosmopolita, uma "pororoca de idiomas e sotaques". De que forma essa cartografia tão diversa ajudou a forjar o samba e sua identidade?
Como disse, a semente do samba é negra, são os cantos religiosos dos ex-escravos que foram para a periferia das metrópoles no início do século passado. Mas havia uma massa enorme de imigrantes pobres (árabes, judeus, europeus, asiáticos) que iam morar nesses bairros e traziam sua cultura, cada um deixando um pedacinho de si naquela música. Não é um fenômeno carioca, sequer brasileiro. Isso aconteceu nas Américas, resultando no blues e no jazz americano, na salsa e na rumba cubanos, no choro e no samba brasileiros. Se procurar, tem essa música misturada pra todo lado. Eu falo em pororoca porque, embora tenha virado um amálgama, algo cujos vários elementos são difíceis de identificar, o processo não foi tranquilo. Acho que é Canclini que diz que, onde tem gente, tem conflito. E a pororoca é isso, a água do mar e do Rio Amazonas disputam quem vai prevalecer, derrubam tudo que está na frente e, no fim, não se sabe se aquela água é Oceano Atlântico ou Rio Amazonas.
Sua pesquisa contou com a colaboração do músico Paulão Sete Cordas e da cantora e professora Clara Sandroni. De que forma esses saberes enriqueceram sua análise das canções escolhidas?
Adoro música, mas a paixão não é correspondida. Não toco, não canto e nem entendo de teoria musical e das mumunhas da música popular, que parece fácil, qualquer um canta, mas é dificílima quando você estuda. Assim sendo, precisei desses dois profissionais maravilhosos para me guiar pela pesquisa. Considero uma canção uma obra literária para ser ouvida, com letra, melodia e interpretação. Paulão e Clara me explicaram como e por que cada música tem arranjo assim ou assado, as diferentes formas de cantar e tocar, porque uma tem orquestra e outra só um regional e por aí vai. Acho que sem eles, a pesquisa teria ficado sem graça, muita teoria e pouca informação. É importante ressaltar a parceria com a Editora Garota FM, especializada em música. Acho que é seu primeiro título sobre samba e espero que venham mais porque o assunto rende muito. A edição é primorosa, da capa ao texto revisto pela equipe e conseguiu um jeito de facilitar a audição das músicas de que falo no livro, o que melhora muito a leitura.
Mesmo após a demolição da Praça Onze há mais de oitenta anos, sua memória e influência cultural permanecem vivas. Podemos, efetivamente, dizer que o cancioneiro popular tornou-se o arquivo afetivo e histórico de um espaço físico que não mais existe. Em que momento esse processo cria o conceito de imaginação coletiva?
O carioca tem a Praça Onze como um local de seu passado e mesmo quem nunca foi lá se lembra do bairro. Quando eu pesquisava para o livro "Negros e Judeus na Praça Onze", pessoas nascidas nos anos 1950 diziam ter ido lá. Impossível porque o bairro foi demolido em 1942. Foi Sérgio Cabral, o escritor, que me ensinou: estas pessoas não mentem, lembram-se do que não aconteceu, mas deveria ter acontecido. O sociólogo Michel Pollak diz que você não precisa ter vivido uma passagem para se lembrar dela porque a memória coletiva é forjada e negociada (nem sempre pacificamente, fique claro). Mas não creio que há um momento em que se criar a imaginação coletiva. Tipo até ontem não havia, hoje passa a haver. É um processo que pode ser estimulado, mas não imposto. Adorei quando Luiz Antônio Simas diz que é um pescador e não um pesquisador. Eu o considero um pesquisador, dos melhores, mas eu sou pescadora. Quando estudo esses assuntos, vejo que há sempre uma vontade de se lembrar de determinada coisa de determinado jeito. Existem fatos que são inegáveis: a Praça Onze foi demolida em 1942, moravam lá 100 mil pessoas à época, 5% declaradamente judias (está no Censo de 1940). Mas, como diz Pirandello, um fato é como um saco, vazio não fica de pé. É preciso enchê-lo de razões e argumentos. Então, a imaginação coletiva ou memória coletiva se criam assim.
Você citou o Simas que, no prefácio da obra, assegura que "não existe o samba do Rio de Janeiro sem a Praça Onze". Como a senhora percebe essa ligação?
Quem sou eu para discordar de Simas? E ele tem razão sim. Havia samba em outros lugares do Rio ou mesmo do Brasil. Hoje, acredito que onde houve escravo tem samba. Tem a congada em Ouro Preto, tem o calango no interior de São Paulo, o jongo no interior do Estado do Rio e até já acharam na região canavieira da Pernambuco. O que difere na Praça Onze é que, com o sucesso de "Pelo Telefone", em 1917, música feita na casa de Tia Ciata, uma líder comunitária avant la lettre, do bairro, produtores e cantores descobriram, na Praça Onze, um celeiro de músicas para vender a um público ávido para levar pra casa a música que antes só se ouvir no teatro ou em festas. Então, cantores e produtores iam lá, assim como compositores também. Era um ponto de encontro para a então nascente – mas já poderosa – indústria fonográfica brasileira.
Além do livro, você desenvolveu o "Samba se Aprende na Escola", um podcast em linguagem didática destinado às salas de aula. Esse projeto revela uma preocupação tua sobre o distanciamento das novas gerações em relação ao samba?
Não acho que as novas gerações estão distanciadas do samba. Pelo contrário. Nas rodas de samba que frequento no Rio e em Juiz de Fora, onde moro atualmente, há sempre muita gente jovem, ligadíssima, buscando aprender com os mais velhos, cantando músicas que nem os avós deles eram nascidos quando foram compostas e querendo aprender. E tem também repertório novo, não cantam só clássicos. Estive em Vitória, recentemente, e lá também tem rodas muito boas. O samba tem isso. Paulão 7 Cordas fala do encantamento que tinha ao ouvir músicos como Dino 7 Cordas, dona Ivone Lara e Manacéa, quando era adolescente. Hoje os meninos e meninas vão às rodas e ficam grudados nele, querendo aprender. Em 2022, lançamos este audiolivro com as músicas comentadas por especialistas e a versão instrumental para se cantar. Lá são 16 músicas no link. O projeto é consequência da pandemia. Até 2020, eu fazia palestras em escolas públicas de Ensino Médio contando essas histórias e os adolescentes adoravam. Era assim: eu mostrava "Batuque na Cozinha", por exemplo, e ele se identificavam com a festa que acaba na delegacia. Aí eu dizia: este samba, hoje cheio de moral, era música desconsiderada há 80 anos. Então, vai fundo no seu pagode, seu funk, seu gospel porque toda arte um dia é reconhecida. Aí, eu quis fazer um songbook, porque tinha as versões instrumentais das músicas e um shopping em Juiz de Fora se interessou pelo projeto. Mas veio a pandemia e o mundo acabou, né? Então, em 2021, com Paulão 7 Cordas e Lucas Gabriel MH, um jovem artista de Juiz de Fora, retomamos o projeto de um podcast. São 18 capítulos, cada um destrinchando uma música, por um especialista (ou o autor, como Aluísio Machado com "Bubum Paticumbum" e João Roberto Kelly com o "Rancho da Praça Onze"). Segundo Lucas me informou, tinha umas 1000 audições por dia. Quem ouve, gosta muito.
Embora você esteja envolvida com as etapas de lançamento do livro, que terá até uma roda de samba nesta quinta-feira, quais são os próximos projetos?
O livro terá o lançamento oficial no dia 17 de julho, às 17h, na Livraria Folha Seca (Rua do Ouvidor 37, Centro), com roda de samba comandada pelo Paulão 7 Cordas. Haverá outros lançamentos no Rio (Armazém do Senado e Espaço Paulão 7 Cordas) e em Juiz de Fora (Samba no Palácio, Mercado Municipal e UFJF) e onde mais quiserem me receber. Estou aberta a convites porque o escritor tem que ir atrás do público. Mas já tenho outro projeto em andamento. Faço outro mestrado em Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, agora estudando os sambas de quadra da Velha Guarda da Portela. Quero entender como e por que estas músicas nos fazem gostar de ser brasileiros, ou seja, nos dão pertencimento. Mas ainda estou no meio do trabalho. Tem outras ideias, mas ideia deve ser calada. Só quando a criança nasce, como no caso de Sambas da Praça Onze, a gente deve sair anunciando, né?