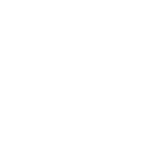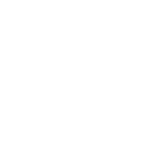Embora "Sunday Blood Sunday", "Seconds" e "New Year's Day" abram a playlist que embala as páginas de "Tudo Acabou Ontem", fazendo do U2 o filé de seu banquete, o cardápio musical do primeiro romance de Mario Marques tem faixas de Echo & The Bunnymen, The Police, Rush, Queen e "Let's Dance", de David Bowie. São canções que se trançam a memórias juvenis do crítico musical, publicitário e bamba do marketing político. O ponto de partida é sua Nova Iguaçu de berço. Formado ainda criança por um radinho de pilha, MM cresceu no jornalismo cultural como um dos mais ferinos (e, por isso mesmo, autênticos) resenhistas que a indústria fonográfica conheceu na imprensa brasileira. Depois de onze livros que passam por eleições ("Voto do Futuro"), comportamento social (o delicioso "Como Identificar E Lidar Com Um Mau-Caráter") e pela MPB ("Guinga: O Compositor Que Perpetua O Tempo"), ele agora atraca seu encouraçado na prosa literária, revivendo seu passado com um lirismo que dói. "É o meu livro mais ambicioso e desafiador, mas venho escrevendo na vida desde os 14 anos", diz Marques, formado em Comunicação Social pela Gama Filho, com passagem por redações como as de O Globo e do Caderno B do Jornal do Brasil.
Criador de duas revistas de música ("Clava do Som" e "Laboratório Pop"), MM passou por agências de marketing, estudando retórica, especializando-se em pesquisa e dominando as estratégias que levam um candidato à vitória. Nessa andança, manteve o apreço pela artesania melódica (e pelo U2) consigo e arriscou emprestar palavras às emoções que experimentou ao longo de seus 55 anos. "Tudo Acabou Ontem", que sai pela Editora Laboratório Pop Books, é o fruto mais tocante desse palavreado que jorrou, no papel, como um descarrego.
Nesta quinta, ele vai estar no restaurante Hollandaise, na Barra da Tijuca (Av. Lucio Costa, 5750), para autografar sua criação. Na mesma data, o romance também será lançado online mundialmente, para venda via Amazon, em 10 idiomas.
Seu texto transporta nossa imaginação para 1982, uma época de amores puros e impossíveis, contrastando com as relações líquidas e voláteis do presente. Segundo MM, trata-se de "um filme escrito". Sua trama se trifurca entre três cidades — Nova York, Kansas City e a já citada Nova Iguaçu — numa triagem da perda, não apenas da pessoa amada, mas da própria experiência amorosa. Através de cartas não enviadas, músicas marcantes e lembranças persistentes, o livro questiona o que acontece com os amores que não podem ser vividos.
Em Nova York, vive Paddy. Funcionário da Tower Records, tímido, quase invisível, ele descobre nas fitas cassete um modo de tocar o coração de alguém que jamais ousou encarar de frente. Essa mulher é Cora, assistente de uma designer, exilada do frio canadense e apaixonada por música.
Em Kansas City, o protagonista é Geddy. Solitário, deslocado, o garoto ouve rádio como quem ouve um oráculo. Descobre o U2 antes de todo mundo. A partir dali, constrói sua própria mitologia da coragem.
Em Nova Iguaçu, quem conduz a trama é Franco. Adolescente de classe média, curioso e entediado, ele mora numa rua íngreme de onde vê o morro e o mundo. Um dia, vê também Evie, mulher mais velha, casada com Douglas, um comissário de bordo que vive entre viagens e negócios escusos. Evie não fala muito, mas olha, e Franco, sem saber o porquê, passa a viver para vê-la. O flerte cresce, o desejo toma forma, e o encontro acontece. Eles ouvem U2, jogam Atari, dançam sozinhos na sala. Até que Douglas chega. Bêbado, paranoico, armado. O amor, que mal começara, vira tragédia.
A escolha dos anos 1980 como cenário é uma declaração de princípios, onde a ausência de tecnologias modernas permite que os personagens vivam intensamente, ainda que em meio ao vazio ou à tragédia. A discografia do U2, serve como um fio condutor essencial, moldando as emoções e decisões dos personagens.
Na entrevista a seguir, MM dimensiona essa jornada memorial.
De que maneira a prosa literária - sobretudo uma tão confessional - dá vazão às suas angústias pessoais e geracionais e o quanto, conscientemente, emprega ferramentas da sua relação profissional com o jornalismo?
Mario Marques: Relancei o portal de rock Laboratório Pop para não perder de vista a música, mas me especializei em ler cenários eleitorais. Esse é o meu foco hoje. A prosa confessional, para mim, é quase uma pulsação descontrolada. Ela escapa, às vezes, sem que eu tenha domínio completo, mas ao mesmo tempo exige estrutura — é um caos com rigor. Escrevi "Tudo Acabou Ontem" com essa necessidade visceral de capturar dores que são minhas, mas que percebo ecoarem numa geração inteira que assistiu ao século 20 terminar sem aviso prévio. A angústia geracional vem da consciência de que vivemos uma transição de mundo: entre o analógico e o digital, entre a possibilidade do amor romântico e a sua atual precarização afetiva. Como jornalista, fui treinado a observar, a cortar excessos, a dar ritmo e precisão à palavra. Isso me ajudou enormemente na composição do romance, porque sei onde há gordura, onde falta silêncio. A disciplina da escuta — tão central no jornalismo e na crítica musical — também me fez um autor atento aos sons por trás da fala dos personagens.
O crítico de música que você é se posiciona como ali?
O crítico de música que há em mim aparece o tempo todo: o livro é cheio de trilhas, ruídos, silêncios pesados como pausas de bateria. A música — e a crítica dela — não é ornamento ali, é nervo. O livro é uma metáfora do amor puro. Que na minha visão acabou. E por isso não se concretizam no livro. Escrevi o livro como um filme em palavras. Porque não sou um escritor de ficção. Muitas vezes, com distanciamento crítico, nem me sinto um escritor. Sinto-me mais um condutor e tradutor do que há dentro de mim. Tenho muita saudade de quando entrava numa redação cheio daquela energia juvenil de construir lead, textos, de expressar-me sobre as canções que ouvia, mas isso já é passado há muito tempo. Ficou só a saudade de me encontrar com meu terminal de computador como se fosse a extensão do meu cérebro.
Qual foi o momento em que U2 mudou seus tímpanos, dividindo Bono do resto? Que músicas mais e melhor servem de trilha para a leitura do teu romance?
Eu lembro exatamente quando "Boy", "October" e "War" chegaram à minha casa. Minha avó trouxe pra mim, por encomenda, de uma viagem à Europa. Eu completei essa hipnose quando o dono de um bar chamado Calypso Video Bar, um japonês, emprestou-me o VHS de "Live at Red Rocks" para eu copiar. Aquilo ali mudou minha vida por completo. Eu lembro de passar anos assistindo ao mesmo show. Se você assistir comigo, eu posso dizer até o que determinado espectador vai fazer, pra que lugar do palco o Bono vai, quando ele chama o The Edge pra frente. Aquilo ali é o resumo da minha vida adolescente: tudo é muito ingênuo, autêntico, puro, poético. Tive a grande oportunidade de entrevistar Bono e Larry para O Globo e acho que consegui transmitir para eles o amor que eu sentia pelo U2 no começo da carreira. Pelo menos até o "The Unforgettable Fire". Depois nada mais me interessou na banda. O meu alter ego na história de Nova Iguaçu traz algumas passagens reais. Como a do meu pai me presenteando com um videocassete. Eu lembro que meu pai me esperava do lado de fora da escola quando eu estava fazendo provas de recuperação. Ele havia guardado o videocassete no armário até eu passar de ano e me disse: "Parabéns, Mário. Aqui está a chave. Vai lá e pode pegar o videocassete". Aquela imagem do meu pai, aquelas palavras, de meritocracia, foram um ensinamento vital pra mim. "October", a canção, resume a tristeza e o silêncio interno da minha vida adolescente. Mas há gritos como "Glória" e "I will Follow", que ecoam na minha cabeça.
Seu livro segue personagens diferentes numa Comédia Humana sobre a perda. Um dos eixos de ação é Nova Iguaçu, que se põe como um ponto de partida. Qual é a Baixada que está ali e o quanto ela conversa com a sua região de infância e adolescência?
A Nova Iguaçu que aparece no livro não é um recorte geográfico, mas uma memória afetiva. É a Nova Iguaçu das casas com muro baixo, dos garotos que ouviam rock em fita cassete enquanto passava o carro do ovo, das ladeiras com vista para a cidade e para o abismo da vida adulta. É a cidade onde o amor acontecia em silêncio, com uma troca de olhares no ponto de ônibus. Nova Iguaçu no começo dos anos 1980 era só silêncio. Ficávamos horas nas ruas esperando o tempo passar sem fazer nada. Havia muitas conversas sobre tudo. Menos sobre o futuro. Não havia assalto, não havia medo de nada. Tínhamos pouca coisa a fazer, a não ser jogar bola, soltar pipa e ver os poucos programas de TV que existiam. Era um outro tempo. Um tempo de amizades e amores intensos, com cartas, com flores, com declarações sinceras, sem interesses outros. Apenas viver de verdade.
Seu livro fala de amor, acima de tudo, nas catástrofes anunciadas e nas tragédias silenciosas. Qual é o desafio de conjugar o verbo "amar" na arte hoje, em tempos de polarizações?
O amor, hoje, virou um campo minado. Conjugá-lo na arte exige coragem para atravessar um terreno repleto de desconfiança, ironia e filtros. Vivemos uma era em que o sentimentalismo é visto com suspeita, e a exposição da vulnerabilidade emocional é quase um ato de resistência. O amor puro — aquele que move os personagens do livro — parece fora de moda, quase infantil, mas é exatamente aí que mora sua força. Num tempo em que se grita muito e se escuta pouco, amar é um gesto radical. Não falo do amor meloso ou da paixão vendida em série. Falo daquele amor que persiste mesmo quando tudo parece condenado — como nos anos 1980, quando dançar era também um ato político. O livro tenta propor isso: que ainda vale a pena amar mesmo quando tudo está prestes a acabar. Ou justamente por isso.
Você se dedicou ao marketing político hoje e à escrita de livros, ainda que mantenha o portal Laboratório Pop. No entanto, sua relação com o rock se faz notar nas referências do romance. Hoje, na música, que artistas mais te impressionam?
A música, para mim, é um termômetro da alma coletiva. Eu não vivo sem música em nenhum momento. E confesso que hoje ouço mais passado do que presente, mas isso não me impede de reconhecer brilhos atuais. Fico impressionado com artistas que ainda apostam em narrativa, textura e entrega — nomes como Weyes Blood e Nature TV criam sons que têm algo de sagrado e devastador, como se ainda estivessem tentando entender o mundo em vez de apenas descrevê-lo. Mas meus sons são os mesmos de sempre: U2, Prefab Sprout, Marillion, Joe Jackson, Chico Buarque, Jobim, o rock progressivo de todas as épocas. Sou eminentemente, nesse sentido, um sujeito que vive do passado. O rock, como o livro sugere, também virou uma espécie de arqueologia emocional. O que me atrai hoje é menos o hype e mais o que ainda pulsa com verdade. O marketing político me ensinou a identificar o falso. Por isso, quando ouço algo genuíno, minha pele reage. E talvez o grande desafio seja justamente esse: encontrar o que ainda não se vendeu inteiro.