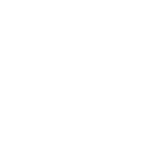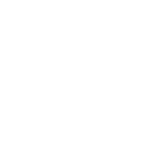Exibido num sábado de chuva nas Gerais, "Palco-Cama" trovejou saudade na Mostra de Tiradentes ao invocar o orixá José Celso Martinez Corrêa (1937-2023). No mais engenhoso documentário exibido pelo festival mineiro, em seus primeiros dias de programação, o realizador pernambucano Jura Capela, diretor de "Jardim Atlântico" (2012), mantém-se fiel ao seu empenho de espatifar o que há de informativo nos registros de arquivo e catar a dimensão sinestésica (sensorial) do que resgata ou do que enquadra. Driblando amarras biográficas, Jura mergulha na intimidade do encenador que fez do Teatro Oficina, em São Paulo, um terreiro de resistência para a invenção nas artes cênicas. Filmado em seu quarto, o diretor teatral transformou a alcova em ribalta e revisitou a gênese de suas peças em uma entrevista performática. Realizador de uma devastadora versão do rodriguiano "A Serpente" (2016) para as telas, Jura registra o material bruto da conversa, segundo a segundo. Zé Celso encena, reflete e se entrega diante da câmera. A montagem de Rodrigo Lima, a quatro mãos com o cineasta, revela camadas de sentido embriagadoras.
No papo a seguir, jura bate cabeça para o mito dos palcos que encenou "Os Sertões" num épico dionisíaco no início dos anos 2000.
O que Zé Celso representou para a construção do seu olhar de artista e de que forma a mistura de encenação e religião em seu teatro serviram de baliza para o seu trabalho, para o seu amor pela cultura?
Jura Capela - Zé Celso é um dos maiores criadores e pensadores da arte no Brasil. A primeira vez que o vi em cena foi imediatamente perceptível a sua grandiosidade — não apenas como encenador, mas como força vital. Seu pensamento e sua presença rompem barreiras da nossa própria existência, deslocando o espectador de um lugar confortável para um estado de expansão e risco. A mistura radical entre encenação e religião em seu teatro sempre funcionou para mim como uma baliza ética e estética. Em Zé Celso, o teatro é rito, é transe, é celebração do corpo e da palavra como atos de liberdade. Essa dimensão sagrada não está ligada à fé institucional, mas a uma espiritualidade da vida, do desejo, da coletividade e da invenção. Seu trabalho provoca uma ruptura com o cotidiano pequeno, normativo e domesticado, encorajando todos a se lançarem em voos mais largos e generosos da experiência humana. Essa abertura para o excesso, para o delírio, para o político e para o amor à cultura brasileira atravessa profundamente o meu olhar de artista, reafirmando o fazer artístico como um gesto de liberdade, de resistência e de comunhão.
Cada filme seu que olha para o passado aborda imagens de arquivo como se fossem uma gira, despedaçando signos em busca de sinestesia. Como ocorre essa operação sinestésica?
O meu trabalho com arquivos nasce de uma relação ritual com a memória. Cada filme que olha para o passado não parte da ideia de documento fixo ou de signo fechado, mas do arquivo como corpo vivo — algo que pode ser girado, atravessado, despedaçado e (re)encantado. Por isso, penso essa operação como uma gira: um movimento circular em que imagens, sons, vozes e tempos distintos se chocam, contaminam-se, produzem novas camadas de sentido. Em todos esses trabalhos, o arquivo deixa de ser um lugar de conservação para se tornar um espaço de transe. É nesse estado de fricção entre tempos, sentidos e afetos que meu cinema se constrói: como um ritual de escuta, montagem e reinvenção da memória.
De que forma o "seu" Zé Celso, o que vemos, é um personagem que ganha autonomia a partir dos seus afetos por ele... da sua saudade?
O Zé Celso que aparece no filme não é um retrato biográfico nem uma tentativa de síntese de quem ele foi. É um personagem que nasce do afeto, da convivência, da escuta e, sobretudo, da saudade. Um Zé Celso atravessado pelo meu olhar, pelas minhas memórias e pelo impacto que ele teve na minha formação artística e humana. Esse personagem ganha autonomia justamente porque não busca representar o "real" no sentido documental clássico. Ele se constrói a partir dos encontros, das palavras ditas e dos silêncios, do corpo em cena, da energia vital que ele irradiava. A câmera não observa de fora: ela participa, deixa-se contaminar. O resultado é um Zé Celso que se move entre presença e ausência, entre vida e permanência. A saudade, nesse sentido, não é um gesto melancólico, mas uma força criativa. É ela que ativa o filme, que transforma a memória em ação, o arquivo em corpo, o passado em acontecimento. O "meu" Zé Celso não pretende ser definitivo ou explicativo — ele existe como experiência sensível, como entidade cinematográfica que continua a agir, provocar e desejar. O que vemos é menos um registro e mais uma invocação. Um personagem que ganha vida própria por nascer do amor, do risco, da necessidade de manter o encontro aberto no tempo.
Qual é o Nordeste da tua origem... da tua gira?
Eu nasci no Recife, em 1976, e fui criado em Olinda. Esse território — marcado pela presença do carnaval, das religiões de matriz africana, da música, da rua e da oralidade — formou desde cedo a minha percepção de mundo. Em 2026 completo 50 anos, e olhar para trás, hoje, é também revisitar uma trajetória atravessada por gestos coletivos, experiências sensoriais e um desejo constante de experimentação. Comecei a fazer cinema em 1996, integrando o grupo Telephone Colorido, um coletivo de cinema e vídeo onde se defendia que o processo era tão importante quanto a obra final. Nesse período realizamos diversos filmes em 16mm, como "Resgate Cultural" (2001) e "A Figueira do Inferno" (2002), experiências que já traziam uma relação física e artesanal com a imagem, com o grão, com o som e com o tempo.