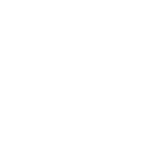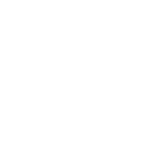Às 2h40 deste domingo, tem um filmaço brasileiro na grade da TV aberta, na Globo: “O Pai da Rita” (2021). A direção é de Joel Zito Araújo, um dos pilares da luta antirracista no país. Sua projeção resgata uma tradição do Plim-Plim, relevante nos 2000, de usar as madrugadas, via “Corujão”, para festejar a produção nacional.
Preciso qual relógio suíço em sua “intriga de predestinação” (termo técnico referente à missão a ser cumprida por um ou mais protagonistas), “O Pai da Rita” cimenta uma estrutura de ação sólida. Faz isso para, de pouco em pouco, de sequência em sequência, num esmeril existencialista de personagens, desapegar-se dela e se concentrar numa (potente) etnografia da amizade. Há um desafio a ser transposto pelo trio central que move a trama do primeiro longa-metragem de ficção de Joel Zito Araújo desde sua consagração pelo melodrama, no Festival de Gramado de 2004, com “Filhas do Vento”. De um lado, Rita (Jéssica Barbosa) quer saber quem é seu pai biológico. Do outro, potenciais candidatos a esse posto, Pudim (Ailton Graça) e Roque (Wilson Rabelo), sambistas que lembram Walter Matthau e Jack Lemmon (respectivamente) em “Um Estranho Casal” (1968), têm que se adaptar à realidade paterna e a toda uma transformação moral do mundo onde fincaram raízes.
Mas isso é apenas o esqueleto (bem) erguido pelo roteiro de Di Moretti (de “Cabra-Cega”), a partir de um argumento de Joel Zito. Uma vez em riste uma espinha dorsal de conflitos, a fim de saciar a fome de catarse da plateia, o diretor responsável pelo seminal “A Negação do Brasil” (2000) lança mão de seu ferramental como documentarista para mapear a arena dramatúrgica à sua volta. Nela, ele vai explorar modos de amar, lealdades, deslizes, riscos e rabiscos do cotidiano do bairro do Bexiga. O resultado é uma Comédia Humana balzaquiana comovente, que afirma a identidade autoral de seu realizador (ao celebrar a potência das populações negras na luta antirracista) e, ao mesmo tempo, alinha-se com uma tradição. Aliás, com duas: uma estrangeira; outra brasileira.
Apoiado na fotografia de Lauro Escorel, um artesão da luz capaz de combinar elegância e despojamento numa alquimia ímpar, “O Pai da Rita” se aproxima das “comédias tristes” da Itália dos anos 1970, sempre preocupadas em esquadrinhar modos de sobrevivência na hostilidade cotidiana do verbo viver. Um mestre do pretérito perfeito da Itália nas telas salta, com destaque, na genealogia estética do longa de Joel: Ettore Scola (1931-2016). Não há como evitar uma comparação com “C’Eravamo Tanto Amati” (“Nós Que Nos Amávamos Tanto”), de 1974. Lá, a trajetória partidária de uma célula política era explorada, décadas adentro, a partir da conexão entre três amigos (dois deles amantes). No filme de Joel, a célula que interessa é um São Paulo boêmia que bebe da cevada do carnaval. E, nela, o dono da bruscheteria (Paulo Betti, impecável), a garota de programa sábia (uma Elisa Lucinda vulcânica) e um dono de boteco cheio de inquietações amorosas (Francisco Gaspar, num show de carisma), são tão essenciais como a trinca que pedala o triciclo dramatúrgico.
Fora isso, é difícil não lembrar de Marcello Mastroianni (1924-1996) e Giancarlo Giannini em “Dramma Della Gelosia (Tutti I Particolari In Cronaca)” (o delicioso “Ciúme à Italiana”, de 1970), também de Scola, vendo a maneira uma como Ailton Graça e Wilson Rabelo harmonizam suas especificidades dramáticas e cômicas numa simbiose plena... e tocante. Ailton é o Zé Pelintra de ruas que se modernizam. Wilson é o ebó que cura as chagas do amigo.
Já a conexão brasileira se dá com dois grandes diretores: o Hugo Carvana (1937-2014) de “Bar Esperança” (1983) e o Waldir Onofre (1934–2015) de “As Aventuras Amorosas de um Padeiro” (1975). Ambos olhavam a periferia como macrocosmos de afetos. Em meio a essas alusões, a mais forte assinatura é a do próprio Joel Zito, um estudioso de modos de se resistir às indelicadezas de um mundo que demole certezas num sopro.