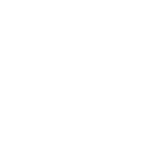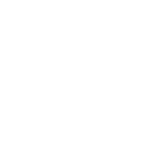Odesempenho de Ella Øverbye no papel da estudante e aspirante a Clarice Lipector chamada Johanne ajudou um bocado na construção do fã-clube que "Dreams (Sex Love)" somou ao longo dos últimos quatro meses, desde a Berlinale. A produção é parte de um projeto que Dag Johan Haugerud idealizou a fim de entender modos de amar, de gozar e de temer o querer. Ele integra uma trilogia antecedida por "Sex" e "Love", ambos de 2024, já lançados por aqui salas e hoje presentes no Reserva Imovision. Antes, sua notabilidade vinha pelo filme "Nossas Crianças" (2019). Agora, ele assume um lugar de relevo na indústria audiovisual de uma nação mais conhecida pela diva bergmaniana Liv Ullmann. Seu país fez bonito também em Cannes, em maio, ao ganhar o Grande Prêmio do Júri com "Sentimental Value", do já citado Joachim Trier.
Na trama de "Dreams (Sex Love)", Dag faz uma ode à literatura ao narrar o processo de escrita de uma adolescente (papel de Ella) no registro (em prosa) de suas fantasias sentimentais por uma mulher mais velha, que jamais a enxerga com desejo. Confira a crítica na página ao lado.
"Se a partir do exercício literário, uma pessoa for capaz de reescrever quem é, ela pode criar uma representação melhorada de si melhor", disse Haugerud ao Correio da Manhã num papo via Zoom que desfila por formas de fazer da linguagem do cinema um espaço geográfico para o querer.
Que responsabilidade a decisão de fazer um filme de amor, nos tempos de hoje, impõe?
Dag Johan Haugerud: Não sinto que se deva falar em responsabilidade quando se trata de arte, mas o amor é sempre importante, sobretudo quando a mirada em questão não é romantismo e, sim, cuidado. O cinema americano criou histórias amorosas, ao longo da História, que me deixam sentimental, mas abrem uma reflexão acerca das projeções que fazemos. Se você crê que a vida será um filme, vai se frustrar. O que os filmes não mostram não é paixão, é parceria.
Que Noruega está refletida em "Dreams (Sex Love)"?
Tento refletir a sociedade escandinava por meio dos diálogos que filmo, a partir da percepção de que, na região de onde venho, muita coisa é resolvida na conversa, na fala. Falar é parte da vida, do cotidiano.
O senhor não teme a decisão de fazer da palavra o lastro da sua narrativa, numa arte que se escora sobre a imagem, o que é um ato de coragem artística. Mas o que existe de cinemático na fala, no verbo?
Certa vez eu conheci Terence Davies (cineasta inglês morto em 2023, que foi cultuado por "Vozes Distantes", ganhador do Leopardo de Ouro do Festival de Locarno de 1988) e tivemos uma conversa sobre esse lugar da palavra nas telas. Lembro de ouvi-lo falar sobre essa contingência de o cinema ter que ser, essencialmente, imagens em movimento. Tal conversa me remonta a uma vivência do discurso como uma expressão do corpo. Logo, ela é ação. A fala é parte da corporalidade de um ator. É gesto. Essa dimensão física é o que eu exploro nos filmes que faço. A parceria que travo com a fotógrafa Cecilie Semec é uma busca por uma mise-en-scène que nasce do falar, na troca entre os personagens. Filmar diálogos longos, sem cair no tédio, é tarefa árdua. A gente experimenta e encontra soluções.
Como é reproduzir a coloquialidade da juventude de hoje em "Dreams (Sex Love)"?
Para te responder isso, antes de tudo eu preciso fazer uma pergunta a você e ao seu público leitor: você já foi adolescente? Se você responder que sim - e, de fato, a adolescência é uma passagem comum a todos nós -, vai perceber que a questão central para lidar com ela é saber lembrar. Minhas memórias de meu primeiro amor e da minha juventude estão comigo. De uma certa forma, esse filme é sobre mim, também. Como eu tenho uma protagonista que reflete como são as jovens de hoje, eu precisei de uma consultoria para que o jeito de falar dela não soasse artificial e não destoasse da contemporaneidade.
Nesse esforço de não destoar do Presente, de que maneira a sua dramaturgia, classificada como queer, lida com a heteronormatividade?
Eu entendo a associação do meu cinema com o imaginário queer. O tema está lá, mas rótulos podem ser limitadores se eles passarem a indicar que faço filmes gays para os héteros. Não faço. A heteronormatividade tem muito a aprender com a comunidade gay.
Na representatividade da Noruega contemporânea, como a trilogia reflete o atual estado do cinema em seu país e como a sua vitória afeta (positivamente) essa indústria?
O cinema que fazemos hoje tornou-se forte nos últimos dez anos por conta de políticas públicas tomadas há uma década e que, hoje, estão reverberando, ainda que eu não saiba o que há de acontecer nos dez anos que teremos pela frente. Fiz a trilogia com cerca de 5 milhões de euros. Parte do dinheiro veio de uma plataforma de streaming (Viaplay), que viu o projeto como se fosse uma série, e parte veio do governo.
Desde Berlim, parte da crítica internacional faz analogia entre seus "Dreams", "Sex" e "Love" e a "Trilogia das Cores" de Krzysztof Kieslowski (1941-1996), feita nos anos 1990. Em que grau o senhor se relaciona com essa referência?
Eu vi os três filmes na época, gostei muito de "A Igualdade É Branca" e de "A Fraternidade É Vermelha", mas não gostei de "A Liberdade É Azul". Não gostei a um ponto que aquele filme me fez parar de escrever profissionalmente sobre cinema em jornais. Gosto do que Kieslowski fez no "Decálogo" e gosto de "A Dupla Vida De Véronique". Se eu tiver que te falar de influências, citaria Éric Rohmer e Jacques Demy, além do cinema americano dos anos 1970. Vi "Kramer vs. Kramer" ainda jovem, e me marcou.
Que novos horizontes profissionais o senhor tem pela frente?
Termino agora um novo romance, chamado "Pastoral Care", e estou trabalhando num novo roteiro, que se estende por dois filmes, com duas atrizes diferentes. Eu gostei do formato que testei na trilogia, de filmes que se conversam, e quero testar esse dispositivo de novo.