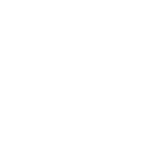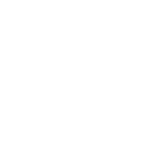Esbanjando problemas nas latitudes mais variadas de seu afeto, Sandra Kienzler, a força vital do filme "Uma Bela Manhã" ("Um Beau Matin"), senta-se ao lado de uma travessa farta de salada verde, usando um casaquinho vermelho surrado, e abre um sorriso de conforto ao ver sua filha brincar com o homem a quem arrisca abrir seu surrado coração. É um instante de simplicidade plena. Não tem qualquer efeito causal sobre a tramas. Apesar disso, é por meio dele que sua realizadora, Mia Hansen-Løve, preenche a tela de afetuosidade, dando alma a um ensaio sobre os nós que a vida dá na rotina da gente, quando menos se espera.
A destreza com que a cineasta, conhecida por "Maya" (2018) e "O Pai Dos Meus Filhos" (2009), traça a geometria existencial da jovem senhora Kienzler, num compasso de ponta fina chamado Léa Seydoux, é notável já nos primeiros planos. Em Cannes, essa esgrima de Mia com a lâmina cega da inércia na dramaturgia corriqueira do cinema francês foi um convite a um mar de elogios. Ninguém soube explicar o que ela foi fazer na Quinzena de Cineastas em vez de concorrer à Palma de Ouro. O fato é: ela agradou onde esteve.
Cronista da falta de perspectivas aparentes, sempre debruçada sobre o "pra onde vamos", que serve como bússola a filmes como "O Que Está Por Vir" (Urso de Prata de Melhor Direção em Berlim, em 2016), Hansen-Løve se fortalece, como narradora, filme após filmes, seguido por estruturas cada vez mais complexas, avessas a repetição. Em "Uma Bela Manhã", a diretora flana entre o drama familiar e o folhetim romântico de modo a criar equilíbrio e cumplicidade entre essas duas instâncias.
Na trama, fotografada em tintas mansas por Denis Lenoir, Sandra Kienzler (o papel de Seydoux) é uma mãe solteira, viúva, que cuida sozinha da criação de sua filha, Esther (Elsa Guedj), após a morte de seu marido, cinco anos antes. Trabalhando como tradutora, ela cuida diligentemente de seu pai, Georg Kinsler (Pascal Greggory, ótimo em cena). Ele é um professor de Filosofia aposentado, que perdeu a visão devido a uma doença neurodegenerativa. A doença dele, obriga Sandra a realocar Georg várias vezes de clínicas ou de instituições de assistência. A cada trânsito dele, os dois têm uma troca, sentimental e simbólica, que reforça a conexão que ambos têm com a palavra. Ele o faz via Platão e os pré-socráticos e ela, pelos romancistas que traduz. Nesse ínterim, um amigo d'outros tempos, Clement (Melvil Poupaud, um ator em fase de evolução, preciso e sagaz em cena), aproxima-se dela. Não se trata de uma aproximação apenas amistosa e, sim, um convite a um romance, embora ele seja casado e não esteja considerando a hipótese de deixar a mulher.
Inicia-se aí uma ciranda de pactos, de perdas, de danos, mas, nunca, de acomodações. Mia não se atrai por bonanças estratégicas. Seu cinema é o do desarranjo, ainda que este pareça leve. A tragédia sempre pode parecer menos grade do que é. Essa é a lição deste envolvente achado da produção francesa dos anos 2020, que este ano abriu o Festival de Cannes com o musical "Partir Un Jour", de Amélie Bonnin, que já vendeu meio milhão de ingressos ao longo de quatro semanas. A pátria de Emmanuel Macron tem outro potencial fenômeno, feito de mãos dadas com os EUA, para arrebatar multidões: "Nouvelle Vague", de Richard Linklater. Estima-se que novas produções feita em Paris e arredores por vozes autorais se espalhem pelos festivais de Locarno (6 a 16 de agosto) e de Veneza (27 de agosto a 6 de setembro). "Deux Pianos", de Arnaud Desplecin, com François Civil, é uma das apostas mais quentes da indústria francesa para o segundo semestre.