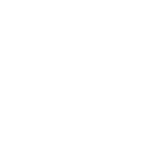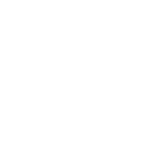A ênfase na discussão sobre bonecos hiper-realistas de bebês contrasta com a passividade diante dos assassinatos de crianças de verdade em Gaza. É como se os brinquedos fossem mais relevantes que meninas e meninos diariamente mortos por Israel, e que não terão chance de renascer.
Nenhum deles será chamado de reborn (renascido): se levarmos em conta a sistemática do genocídio contra palestinos, cada um deles poderia ser classificados de rekilled, são mortos repetidas vezes, em sequência.
Nada contra brinquedos, adultos também têm o direito de vivenciar fantasias, de preencher lacunas. Em seu recém-lançado livro "O primeiro leitor", o editor Luiz Schwarcz, ao tratar do processo de criação artística, cita Sigmund Freud.
O criador da psicanálise, ressalta Schwarcz, disse que a escrita "é uma forma de fantasia ou devaneio diurno que substitui a brincadeira infantil". Escrever seria assim uma forma de superar barreiras que, no dia a dia, "nos separam de tantos outros Eus". Criar seria uma forma de proprocionar novas compreensões e entedimentos.
Assim, brincar de ninar um boneco deve ser lá seu efeito apaziguador ou prazeroso. Há quem prefira colecionar selos, lavar carros, mergulhar na fantasia da vitória do time que adotou para si, outra forma de dar concretude a algo abstrato.
O problema é quando limites são deixados de lado e adultos começam a achar que aquele objeto feito de plástico é mesmo um ser humano; um delírio que, no limite, é estruturado a partir de uma visão autoritária e excludente.
Trata-se de um bebê que não vai chorar, sujar as fraldas, cobrar comida — não irá crescer, não decepcionará nos estudos, não brigará, não fugirá dos caminhos idealizados por seus, digamos, pais. Será sempre um ser em potencial, incompleto, moldado. Um neném prêt-à-porter, imortal porque nunca teve vida.
Já os desprezados nenéns de Gaza foram gerados por humanos, cresceram no ventre de suas mães, levaram o susto no nascimento que os empurrou para o mundo. Desde então travam a batalha contra os que querem vê-los mortos, que buscam acabar com suas vidas, com a possibilidade de renascimento do povo de que fazem parte.
São vistas não como concentrados de vida, mas como ameaças potenciais e que, por isso, precisam ser mortos — neutralizados, no jargão homicida —, como mal que se mata pela raiz. São alvo de uma política de exterminío admita pela quase totalidade do mundo ocidental. Não provocam lágrimas, solidariedade, compaixão.
Não faltam razões para um lado acusar o outro, a história não costuma ser feita por mocinhos. Mas a desporporção de forças é gritante demais, que por si frisa o tamanho do absurdo. Não pode haver tolerância nem mesmo na linguagem que pune palestinos e absolve israelenses: a prática do terrorismo não é um privilégio reservado a grupos; Estados também o praticam.
A ausência de sentimentos em relação aos bebês rekilled de Gaza não é original. A história do mundo é cheia de exemplos de povos que, para facilitar o extermínio de adversários ou inimigos, passaram a tratá-los como não humanos, desprezíveis.
Isso viabilizou a escravidão ao longo dos séculos, respaldou na Alemanha nazista o desprezo em relação a judeus, socialistas, homossexuais, ciganos. E não dá pra não falar de nós mesmos. Vale reparar como as ruelas do que sobrou de Gaza lembram as nossas periferias e favelas — a pobreza, as casas precárias, as vias empoeiradas.
No Brasil também se cultiva o ódio ao outro, àquele que é visto como um obstáculo ao progresso, à ordem, à vida, que merece ser tratado como não gente; que, no máximo, pode ser admitido para prestar pequenos serviços em troca de pagamentos irrisórios. Por aqui, matar pretos e pobres dá muito voto; em Israel, uma rara democracia no Oriente Médio, o massacre promovido por Benjamin Netanyahu tem lhe garantido votos e a permanência no poder.