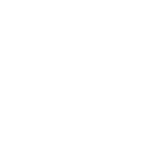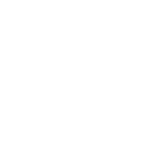Em 1955, o poeta Ferreira Gullar criou um aforismo que se tornaria célebre: "A crase não foi feita para humilhar ninguém", uma brincadeira com as dificuldades existentes no uso correto do acento grave, sinal indicativo da contração da preposição "a" com o artigo definido feminino "a".
Aquele sinalzinho agudo ao contrário que quebra a cabeça de muita gente não passa de uma representação gráfica que substitui, na introdução de palavras femininas, o mais do que banal "ao", fruto da mesma contração. Ao invés de irmos "a o" estádio, vamos ao dito cujo. Da mesma forma que vamos não "a a" arena, mas à arena.
Simples, né? Nem tanto. Ao longo do tempo, o sinalzinho passou a representar uma dificuldade no uso normativo da língua portuguesa escrita. Na hora de falar, nenhum problema — o tracinho que se impõe da esquerda para a direita ocupa com tranquilidade seu lugar quando alguém manda o outro àquele lugar (o que designa matéria fecal) ou procura, de maneira preconceituosa, ressaltar o passado de sua genitora. Nos dois casos, o sinal indicativo de crase é falado na hora do "Vá à...".
O problema é na hora de escrever. Como quase tudo que se faz de besta, a crase ganhou o sinônimo de nobreza, de indicativo de bem escrever. Utilizá-la passou a ser visto como sinal de conhecimento dos mistérios da língua; exibi-la virou um indicativo de saber. Numa sociedade tão desigual, hierarquizada e excludente, muita gente passou a encarar no uso da crase algo semelhante à necessidade de usar a taça correta para determinado tipo de vinho ou saber a ordem certa dos talheres.
Espalhar umas crases num texto ou numa reles placa de trânsito começou a ser encarado como passear de Porsche conversível ou andar de braços dados com a pessoa mais desejada da rua. A crase ganhou papel de indicativo de riqueza, tão cafona como os exemplos listados no divertido e assustador "Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros", livro de Michel Alcoforado.
É como se espalhar crases por aí fosse como comprar jatinhos, exigir mesa exclusiva em spas caríssimos, disputar o tamanho de barcos de lazer. O importante seria "fingir costume" com o uso da crase — para usar uma expressão citada no livro, repetida por ricaços para o pesquisador que tinha dificuldade de se mover naquele universo.
E, aí, como a breguice de bilionários que querem exibir seus Rolex, tome de "à prazo", "à partir de hoje", "curva perigosa à 100 metros" — sentenças que complicam a segurança do crediário, do calendário e das estradas. Línguas são feitas para permitir a comunicação, a gramática normativa não pode ser usada como instrumento de poder, de ponha-se no seu lugar. Não pode indicar caminhos errados.
Com exceção dos profissionais que vivem da escrita, ninguém é obrigado a acertar a colocação de crases ou de acentos, de — valha-me "Vocabulário ortográfico da língua portuguesa", da ABL — hífens.
Melhor errar pela omissão, agir de maneira minimalista. Vale mais deixar de colocar uma crase duvidosa do que tascar um tracinho que ficará sobre o "a" tão feio e desconfortável quanto um par de chuteiras nos pés de quem veste terno, caricatural como coroa de rei feita de papel laminado.
Na dúvida, vale seguir o aforismo do poeta e não se render à tentação do uso indiscriminado do sinalzinho — ignorar o autoritarismo da crase é também um jeito de dizer que quem manda no texto é quem o escreve.