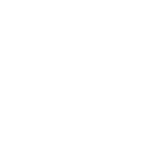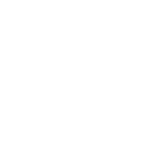"Há quem não se importe/ Mas a Zona Norte/ É feito cigana lendo a minha sorte/ Sempre que nos vemos ela diz/ A minha história/ Escorre aqui". Na noite da última quinta-feira, desabei feito um viaduto ao, num show de Moyseis Marques, ouvir "Só dói quando Rio", música de Moacyr Luz e Aldir Blanc.
Como dizem outros versos da canção, só fico à vontade nesta cidade doce e dolorosa — em particular, nas ruas suburbanas que me viram crescer. Um Rio que hoje se mostra cruel, inviável, vingativo, que troca a festa da vida pelo gozo da morte.
Os dois compositores — mais Paulo César Pinheiro — escreveram outro alerta, diagnóstico de que seguíamos por atalhos complicados, que proliferavam valas em nossos corações. Mas "Saudades da Guanabara", lançada há 36 anos, é canto de esperança, tem fé na retirada das flechas do peito de nosso padroeiro, na salvação. De lá pra cá, escarramos mais e mais sangue de outras hemoptises em canais como o do Mangue.
A perspectiva romântico-libertária do "Quando derem vez ao morro/ Toda a cidade vai cantar" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) perdeu fôlego, o morro cansou de esperar a sua vez, rejeitou o enquadramento lírico e a receita de bolo revolucionário, a velha história do quando chegar o momento.
Quem sabe faz a hora, do jeito que dá; caminhos tortos que foram sendo abertos ao se caminhar descalço sobre brasas e espinhos, disparando e levando tiros. Saiu Dadinho, entrou Zé Pequeno ("Sacaram o berro/ Meteram faca, ergueram ferro/ Aí Exu falou: Ninguém se mete!", Bosco e Blanc).
Nossa tragédia foi sendo construída com empenho. Ficou pra trás a história do sonho de se andar tranquilamente na favela em que se nasceu. Ao longo dos anos, Chico Buarque registrou: "Civilização encruzilhada/ Cada ribanceira é uma nação", "No avesso da montanha, é labirinto/ É contra-senha, é cara a tapa", "A gente ordeira e virtuosa que apela/ Pra polícia despachar de volta/ O populacho pra favela/ Ou pra Benguela, ou pra Guiné".
A carne mais barata do mercado é a carne negra, gritou Elza Soares ao cantar o manifesto de Marcelo Yuka, Seu Jorge e Ulisses Cappelletti. "Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática/ Um sentimento de revolta/ Eu tô tentando sobreviver no inferno", responderam os Racionais MCs, que completaram: "Não quero achar normal/ Ver um mano meu coberto com jornal".
(Enquanto escrevo este texto, jovens brancos dançam ao som de sucessivos funks três andares abaixo da minha janela. Esse som de preto, de favelado — quando toca ninguém fica parado, frisam Amilcka e Chocolate — continua autorizado a circular, a frequentar festas na Zona Sul carioca, sobe sem restrições pelo elevador social.)
"Qual a paz que eu não quero conservar/ Pra tentar ser feliz?" — um ano depois de lançar essa questão, Marcelo Yuka tentou impedir um assalto e tomou muitos tiros. Levado para um hospital público, foi esculachado por integrantes da equipe de socorro, eles julgaram que um negro, ferido daquele jeito, só poderia ser traficante.
"Rio de Janeiro, favelas no coração": o último verso da canção que abre esta crônica soa agora arcaico; o Rio dói de tudo que é jeito, já não está dando pra rir. Estão lá os corpos estendidos no chão — de policiais, de criminosos, dos nem-nem.