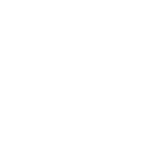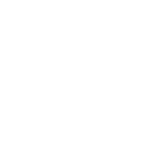Perdemos, perdemos: as batalhas travadas ontem no Rio marcam o fim de um faz de conta, da ideia de que a segurança pública no país, em particular na capital fluminense, pode ser equacionada com movimentos pontuais, verborragia e operações da polícia.
Ficou mais uma vez evidente que a sucessão de incursões serve apenas para gerar mais ódio, conflitos e mortos, inclusive, entre policiais. Os quatro que tombaram ontem morreram em vão, personagens da mesma tragédia que marca a nossa brutalidade, o pacto que estimula sucessivas baixas — desde que quase todas as vítimas sejam pobres, não importa de que lado estejam nas trincheiras.
Alimentada pela retórica oportunista de políticos, a rotina de confrontos mantida há décadas gerou uma cidade que se revela cada vez mais violenta, injustiça, desigual: inabitável, por mais linda e apaixonante que seja.
Há pelo menos quarenta anos que se insiste em pregar mais e mais violência contra os suspeitos de sempre, em anunciar um suposto combate sem tréguas à criminalidade, em classificar de defensores de bandidos aqueles que defendem o respeito a leis básicas da civilidade e a eficiência da polícia.
O que houve ontem ressalta o erro e atitude criminosa dos tantos que ao longo dos anos estimulam a matança por parte da polícia, algo que fomenta a corrupção no aparelho estatal — e não apenas na estrutura de segurança — e que faz vítimas entre os próprios agentes.
Se violência policial resolvesse algo, o Rio seria uma das cidades mais pacíficas do mundo — e ninguém duvida de que nada vai mudar por aqui, né?
Há 15 anos, no dia 28 de novembro de 2010, o Rio se permitiu respirar aliviado com a ocupação — sem tiros e mortes — do Complexo do Alemão, que contou com o apoio das Forças Armadas e estava incluída no processo de pacificação encarnado nas UPPs. Um projeto que previa também uma proposta de resgate social.
Uma das cenas daquele domingo é muito representativa de nossas contradições e danações: um dos policiais que ficaram a bandeira brasileira num daqueles morros foi o sargento PM Marcos Vieira Souza, o Falcon, que meses depois seria preso, suspeito de envolvimento com milicianos.
Libertado, virou homem forte da Portela, criou uma entidade que reunia escolas de samba de divisões inferiores. Candidato a vereador pelo PP — partido do então governador em exercício, Francisco Dornelles —, acabou assassinado em 2016 em seu comitê de campanha, num crime jamais apurado. As UPPs foram para o espaço; inaugurado em 2011, símbolo do investimento estatal no bem-estar da população, o Teleférico do Alemão está parado há nove anos.
De 2010 para cá, o crime se sofisticou, organizações locais se expandiram pelo país, criaram vínculos ainda mais fortes com setores do universo político e empresarial. A polícia, porém, na maior parte das vezes, demonstra ter ficado parada no tempo, incapaz de atacar o crime em seu ponto mais sensível, o da movimentação de bens e de dinheiro.
Subordinada a políticos que investem no confronto, insiste em operações que provocam mortes de inocentes, levam o terror à população, destroem a imagem de um Rio que tem no turismo uma de suas principais fontes de renda. O resultado são incursões mal planejadas; a de ontem foi incapaz até de prever que integrantes da mesma facção reagiriam em outros pontos da cidade.
O Rio foi dormir com mais medo e ódio, acordou espumando com sede de vigança por todos os lados. Há uma justificada fúria de policiais que perderam colegas e de moradores de favelas que viram parentes, amigos e vizinhos morrerem — entre eles, pessoas obrigadas a carregar desde o berço a marca da suspeição, culpadas apenas de terem nascido pretas e pobres.