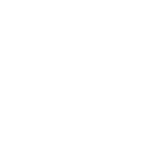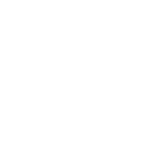A passividade do mundo em relação ao genocídio em Gaza jogará nas nossas costas uma responsabilização comparável àquela que houve depois do Holocausto. Aos olhos da História, praticamente todos nós seremos considerados cúmplices da tentativa de extermínio de um povo pela ação do governo de Israel, escolhido pela maioria dos eleitores do país.
Diante das cenas dos campos de concentração, todos os nascidos depois da II Guerra Mundial já nos perguntamos como a humanidade permitiu que tamanha brutalidade pudesse ter ocorrido. Não é absurdo prever que o mesmo tipo de questionamento será feito a todos nós, contemporâneos do que ocorre na Palestina. Seremos vistos como os que se omitiram diante das crianças famélicas de Gaza, do uso da fome como arma de extermínio em massa.
Não se trata de equiparar tragédias nem de, alguma forma relativizar o horror do nazismo e do assassinato em massa de judeus, de pessoas de outros grupos étnicos e religiosos, de adversários políticos, de homossexuais, a lista foi longa.
Mas, até pelo seu tamanho, tal barbárie virou uma referência, um ponto de inflexão, uma certeza de que nunca mais algo semelhante poderia ser admitido contra nenhum povo. Havia uma espécie de compromisso moral de jamais admitiríamos algo que trilhasse aqueles mesmos caminhos, que buscasse eliminar seres humanos apenas por sua origem, por sua identidade coletiva.
Desde pelo menos a segunda década do século XX, particularmente depois do fim do Mandato Britânico na região, e da criação de Israel, em 1948, que judeus e palestinos têm suas razões para acusações mútuas. Nas últimas décadas, os conflitos se acentuaram, incluem assassinatos, atos de terrorismo, sequestros, violação do direito internacional. Todos os que vivem por lá devem ser capazes de discorrer sobre mortos em suas famílias, vítimas de um conflito que parece não ter fim.
Houve expulsão de palestinos de seus territórios, incentivo estatal à ocupação dessas áreas por colonos israelenses, massacre de atletas judeus na Olimpíada de Berlim, ataque terrorista do Hamas em 2023 que gerou assassinatos e reféns. Cada lado é capaz de arrolar uma interminável lista de perdas.
Mas não se pode chamar de guerra o ataque sistemático de um país a um povo que sequer tem o direito de se organizar em um estado independente. A desproporção de forças, a matança de inocentes e o terrorismo de Estado, impedem qualquer tentativa de usar palavras para forjar um suposto equilíbrio.
É abjeto o governo israelense falar em criação de uma "cidade humanitária" em Gaza, algo que — inevitável pensar — remete aos campos de exterminío nazistas, aos letreiros que neles anunciavam uma suposta libertação pelo trabalho.
Israel, país nascido dos escombros do maior e mais terrível projeto de eliminação de um povo, não poderia permitir que sua atuação desse margem a qualquer tipo de referência ao que houve na primeira metade do século passado.
O massacre e a limpeza étnica israelense foram ontem chamados de genocídio até mesmo duas organizações israelenses de direitos humanos, a B'Tselem e a Médicos pelos Direitos Humanos (PHRI, na sigla em inglês).
Como mostrou o jornal O Globo, dois israelenses — o historiador Adam Raz e o sociólogo Assaf Bondy — lançaram um livro em que analisam o uso, em seu país, de uma linguagem que, como registrou reportagem do jornal ao desumanizar os palestinos e amenizar o que ocorre em Gaza, autoriza os crimes cometidos pelo Estado: expressões como "emigração voluntária", "zonas humanitárias" e "animais humanos". Palavras que atuam como a estrela amarela pregada nas roupas de judeus pelos nazistas.
Não é admissível também usar o argumento de suposto antissemitismo para carimbar as críticas a Israel, seria o mesmo que classificar de antigermanismo a condenação aos nazistas. Israel sempre se orgulhou de ser a única democracia do Oriente Médio, uma classificação que embute uma responsabilidade coletiva, que faz da maioria dos cidadãos do país avalistas e entusiastas de Benjamin Netanyahu. Mas isso não afasta a responsabilidade do resto do mundo, de todos nós.
*
Ontem morreu, aos 74 anos, Marcelo Berab, o melhor jornalista que conheci. Ao longo de mais de 50 anos de profissão, ele ensinou muito, pra muita gente. Tive o privilégio de aprender com ele, e de ser seu amigo.