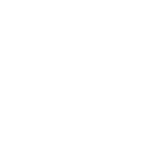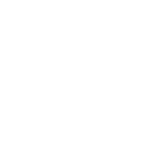No rol de grandes atrizes em fase outonal que mais trabalham hoje entre Hollywood e o Velho Mundo, a inglesa Charlotte Rampling caminha para os 80 anos angariando, há cerca de uma década, um prestígio que faz justiça à farta experiência em seu currículo.
Concorreu ao Oscar, em 2016, por "45 Anos", drama que lhe rendeu o Urso de Prata. No ano seguinte, recebeu a Copa Volpi do Festival de Veneza por sua interpretação em "Hannah", um de seus hits. Teve ainda críticas calorosas a tecerem loas por seu trabalho em "A Matriarca", que dá o ar de sua graça em nosso circuito nesta Semana Santa. É um dos longas-metragens que mais e melhor exploram um ferramental cênico que custou a ser reconhecido, apesar da associação de sua imagem a causas de equidade e empoderamento feminino.
Dona de uma mirada vítrea, a estrela britânica nascida em Essex completa seis décadas de carreira este ano, tendo feito sua primeira participação não creditada nas telas em "Os Reis do Iê-Iê-Iê" (1964), com os Beatles. Brilhou em "Os Deuses Malditos" (1969), de Luchino Visconti (1906-1976), mas foi ao lado de Sean Connery (1930-2020), em "Zardoz" (1974), que despontou como candidata a diva. No mesmo ano, protagonizou o polêmico (mas, essencial) "O Porteiro da Noite", que garantiu à direita Liliana Cavani um status de realizadora autoral.
Nos anos seguintes, Charlotte saltitou entre papéis de quilates distintos, somando cerca de 130 títulos em sua jornada pelas telas, que foi coroada com o Urso de Ouro Honorário da Berlinale, em 2019. Nunca negou o convite de franquias hollywoodianas, vide sua presença no sucesso "Duna - Parte II", de Denis Villeneuve, hoje em cartaz. No entanto, são as pequenas produções, como "A Matriarca" ("Juniper" no original) que valorizam seu passe.
O roteiro e a direção são de Matthew J. Saville, um ator neozelandês, diretor de curtas, que faz sua estreia no timão dos longas com base numa trama de tons autobiográficos sobre sua relação com sua avó. A trama que ele filma vai por essa verve nostálgica. A tal "matriarca", Ruth (Charlotte, infalível a cada plano), é uma ex-correspondente de guerra, agora entediada na aposentadoria com um problema com bebida e uma perna recentemente fraturada. Sam (George Ferrier) é seu neto rebelde, recentemente expulso do internato e sofrendo com a morte de sua mãe. Quando os dois são reunidos sob o mesmo teto, eles formam um vínculo inesperado, o que acaba por reaproximar Ruth do filho com quem tem uma relação hostil: Robert, vivido por um áspero Marton Csokas.
Na direção de fotografia, Martyn Williams embrulha uma narrativa de acerto de contas com um louvável equilíbrio na temperatura das cores. A montagem de Peter Roberts também segue uma trilha equilibrada, só derrapando no ritmo nos dez minutos finais, que são um tanto mal editados. Só falta temperança no comportamento da própria Ruth, o que garante cenas nas raias da ironia ao desempenho de Charlotte. A sequência em que ela convoca os colegas de Sam para uma limpeza coletiva em seu lar, coroando a arrumação com uma festança, é o apogeu da dramaturgia de Saville.
O diretor conversa de modo frontal com outros enredos de reconexões familiares de gerações distintas, como "Aprendendo com a Vovó" (2015), com Lily Tomlyn, e "Num Lago Dourado" (1981), com Jane Fonda e seu pai, Henry, em estonteantes interpretações. O diferencial aqui é a ausência de discursos moralizantes e a habilidade de Charlotte em filtrar qualquer resquício de sentimentalismo no qual o roteiro de Saville resvale, dando um tratamento econômico, contido, aos afetos em cena. Não se trata de um espetáculo para choro farto e incontinente e, sim, de um estudo sobre arrependimentos e convicções, no prisma da renúncia.