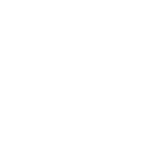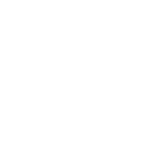Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2024, o tocante "Eu, Capitão" é um fruto tardio do que o audiovisual europeu classifica como "Risorgimento". Sem alusões ao momento histórico de unificação da Península Itálica no século XIX, fora um espírito identitário de autoafirmação, a tal expressão, quando aplicada ao cinema, faz referência a uma fricção estética realizada no fim dos anos 2000 quando uma leva de diretores italianos, de diferentes regiões, tomaram os grandes festivais da Europa de assalto com uma nova (e refinada) fornada de narrativas.
Todas eram autocríticas; todas imbuídas de referências da Hollywood dos anos 1970 (Martin Scorsese, Hal Ashby e Brian De Palma, sobretudo); todas batiam cabeça para a tradição da pátria de Fellini, sem se render a esse seu passado. O thriller de máfia "Gomorra", do romano Matteo Garrone, foi o chute a gol mais certeiro dessa agitação artística, impulsionada a partir do Festival de Cannes de 2008.
O cineasta, que vem das artes plásticas, com uma carreira paralela na pintura, saiu da Croisette com o Grande Prêmio do Júri. Na mesma competição, o napolitano Paolo Sorrentino ganhou o Prêmio do Júri, por "Il Divo" (nunca estreado aqui). Quatro anos depois, Garrone papou mais um Grande Prêmio cannoise, agora por "Reality", esculhambando dinâmicas da sociedade do espetáculo ao falar do "Big Brother", apoiado no talento de um presidiário que virou ator na cadeia, Aniello Arena.
Garrone passou os últimos 15 anos desafiando a gravidade moral de sua pátria, numa ousadia que é política e histórica para uma terra de gigantes. De lá vieram Rossellini, De Sica, Fellini, Visconti, Antonioni, Lina Wertmüller, Pietro Germi, Pier Paolo Pasolini, Liliana Cavani, Elio Petri, Valerio Zurlini. É uma terra que foi próspera na seara dos filmes de gênero, seja no terror (com o giallo de Dario Argento), no faroeste (com as macarronadas de Sergio Leone, Tonino Valerii e Sergio Corbucci) e nos épicos de gladiador (o Peplum).
Apesar dessa euforia criativa toda, a cena industrial cinematográfica à italiana minguou por um bom tempo, de 1984 a 2008, vendo suas fontes de fomento à produção cinematográfica escassearem, numa rusga com autoridades parlamentares, por conta do fortalecimento da TV. Com isso, até campeões de bilheteria como Carlo Pedersoli e Mario Girotti (conhecidos como Bud Spencer e Terence Hill) deixaram de fazer os longas da franquia "Trinity", sob a guilhotina de políticos como Silvio Berlusconi, restando visibilidade a poucos cineastas. Giuseppe Tornatore (com "Cinema Paradiso") e Roberto Benigni (com "A Vida É Bela") souberam bem flertar com as receitas da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Nanni Moretti permaneceu ativo, desde 1973, e nos brindou faz pouco com "O Melhor Está Por Vir". Resistentes do movimento moderno também se mantiveram firme, como o finado Bernardo Bertolucci, que foi fazer uma incursão pelo Oriente e filmar em outras línguas (vide "O Último Imperador"), e (o até hoje imparável) Marco Bellocchio, artesão por trás de "O Traidor" (2019) e o ainda inédito "Rapito".
Garrone viu essa turma toda. Aliás, "Io, Capitano" (título original de seu oscarizável novo longa, que acaba de estrear aqui) lembra muito "Conseguirão os Nossos Heróis Encontrar o Amigo Misteriosamente Desaparecido na África?" (1968), de Scola. A lembrança não é pela picardia, mas pelo desenho geopolítico. Os dois olham para o continente africano despidos de paternalismos sociológicos.
Ao exibir "Eu, Capitão" na abertura do Festival de Küstendorf, na Sérvia, no dia em que recebeu a indicação à estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Garrone explicou que seu maior medo, em relação a essa produção, era cair no arquétipo do "branco de classe média que vai à África explorar a miséria alheia". Fez de tudo para evitar o lugar comum do colonialismo. Rodado no Senegal, seu mais recente exercício autoral de observação da obstinação (seu tema por excelência, vide "Dogman") acompanha a jornada de dois rapazes de Dakar em direção à Itália. Na ocasião das filmagens, o cineasta andava com a cabeça em universos fabulares, ainda sob o efeito de seu "Pinóquio", exibido na Berlinale de 2020.
No elenco daquela joia infantojuvenil sobre os riscos do verbo "amadurecer" estava Roberto Benigni, oscarizado ator e realizador de "A Vida É Bela" (1998), com o qual "Eu, Capitão" muito conversa. É uma saga bem pé no chão sobre perigos da imigração. Mas ela dialoga com o sucesso hollywoodiano de Benigni por investir nos poderes da imaginação. Seu personagem central, Seydou, salva-se de humilhações e de privações flanando pela esfera do delírio e do sonho, sem jamais se desfocar dos deveres e dos calos em sua mão, que se esfalfa em trabalhos forçados como pedreiro.
Seu intérprete também se chama Seydou. Seydou Farr. Ele saiu de Veneza com o troféu Marcello Mastroianni de Melhor Estrela Revelação. Garrone ganhou (merecidamente) a láurea de Melhor Direção. O Seydou da ficção tem 16 anos e se junta a seu primo de mesma idade, Moussa (Moustapha Fall), numa jornada de Dakar para a Sicília, em busca de uma vida melhor. Passa por toda a sorte de percalços para isso, encarando um deserto escaldante, tropas armadas e barcos lotados. É uma narrativa tensa, mas comovente, que conversa visualmente com a tradição do grande cinema italiano moderno, em especial "Terraferma" (2011) e 'Fogo no Mar" (Urso de Ouro de 2016).
Sua engenharia de som impecável ressalta os gritos da embarcação em que Seydou assume o posto do título. Antes de chegar lá, passa por uma série de peripécias que desenham o filme de Garrone num registro de aventura, com direito a um estudo sobre perseverança. Estudo a partir do qual vemos o amadurecimento de um menino.