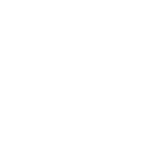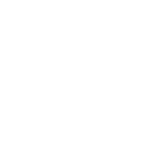Só se fala (e com razão) em "Assassinos da Lua das Flores", que chega ao circuito brasileiro nesta quinta-feira (19), mobilizando as listas de apostas para o Oscar 2024. A divulgação ampla do western antirracista com Lily Gladstone atrai olhos para outros filmes do mítico realizador, a se destacar uma obra-prima, de 2016, que ficou proscrita, apesar de todo o prestígio do diretor: "Silêncio".
Há uma semana, o longa-metragem - um fracasso comercial, que custou US$ 50 milhões e faturou apenas US$ 23,8 milhões - voltou a ser incensado, com exibições em TVs a cabo e convites para retrospectivas internacionais. É uma redenção para um fiasco. E, em se tratando de uma trama com temática religiosa, redenção é, mesmo, "a" palavra.
Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, é, há décadas, o motor imóvel da obra de Scorsese, desenhando sua obsessão pelo sacrifício como um gesto restaurador das relações entre os homens - mesmo relações com base em mecanismos sociológicos, tipo o crime. É do sangue derramado de Travis Brickle que a Nova York de "Taxi Driver" (1976) pode sair do umbral da marginalidade mais rasteira.
É da imolação da amizade de Henry Hill (Ray Liotta) pelos parceiros de máfia que o educaram que a célula mafiosa de "Os Bons Companheiros" (1990) se vê forçada a se redesenhar. É a doação de um menino a um universo de prestidigitação que permite a Georges Méliès uma chance de sair das sombras e assumir seu lugar de gênio do cinema em "A Invenção de Hugo Cabret" (2011).
Por isso, não poderia se esperar outra coisa que não fosse um herói sacrificante de "Silêncio", uma epifania em forma de filme que Scorsese nos dá de presente de sua imersão no romance homônimo do Graham Greene japonês: o escritor Shûzaku Endô. Tem alguma coisa nele de "O Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), a Bíblia da fé glauberiana, do qual o realizador de "Os Infiltrados" (Oscar de melhor filme e direção em 2007) é fã: há algo do sertão de Glauber Rocha no Japão para os um jesuíta (Andrew Garfield, impecável) vai buscar seu mestre perdido entre uma horda de guerreiros que condena católicos a um mar de torturas (literalmente).
Pela lógica, um cordeiro será oferecido, no temor ou no tremor, ao Absoluto, de modo que a natureza (aquela com "n" minúsculo, a dos homens, da cultura) se harmonize no que pode ser chamado de um tratado de antropologia de 2h40m da mais esplendorosa fotografia que o mexicano Rodrigo Prieto já clicou, ao recriar um século XVII. Não por acaso, ele foi indicado ao Oscar por seu olhar. Fruto de um trabalho de imersão de 25 anos, tempo dedicado pelo cineasta à busca para viabilizar o projeto de filmar Endô, essa produção carrega algo de perpétuo (ou seja, de autoral) na obra de Scorsese: o interesse do diretor pelo perpétuo, pela permanência de certos valores, sobretudo a lealdade, palavra que corre sua obra tanto em ficções como Cassino (1994) quanto em documentários como Shine a Light (2008), sobre a liga dos Rolling Stones. Se existe algo que o vento não enverga, que o dinheiro não compra, que o sexo não ultrapassa é a condição de ser leal, seja a um amigo ("A Cor do Dinheiro"), a uma causa ("Gangues de Nova York"), a um amor ("A Era da Inocência") ou, neste caso, a Deus. Ser leal envolve sacrifício. E o padre Rodrigues (Garfield) vai, a duras penas, aprender uma lição que Scorsese já nos dera em "A Última Tentação de Cristo" (1988), ao se debruçar sobre o mito de Judas Iscariotes: nos desígnios de Deus, o traidor algumas vezes é a peça central da fundação da Fé como um bem maior… e coletivo.
No roteiro de Jay Cocks, a relativização será a linguagem imperial: cada certeza que Rodrigues carrega (e nós também) desloca-se para um outro ponto de vista, não um em que ele deva abandonar suas convicções, mas sim um em que ele tenha de aprender a exercitar seus credos de novas formas - mais e melhores formas, melhores para o Outro… e para Deus. Percebe-se à certa altura que não se trata de um filme sobre o exercício da fé, e sim um filme sobre arrogância. A arrogância institucionalizada. Aprende-se isso não dos padres heróicos - a princípio - mas das bestas feras que os acossam de katanas na mão. Os guerreiros japoneses, vistos numa primeira conexão como animais selvagens, vão nos ensinar, de uma maneira por vezes debochada - como nos prova o genial senhor da guerra vivido por Issei Ogata, na atuação mais dionisíaca do filme - que o ódio nipônico pela fé Cristã não é uma rejeição religiosa nem um ato demoníaco. O repúdio deles é uma forma de prevenção a uma cultura chegada, como eles dizem, "do Oeste", do Ocidente, e que ameaça jogar por terra tradições nacionais edificadas ao longo de séculos. Ou seja, a questão é, de novo, o perpétuo. O perpétuo da cultura, frente a invasões bárbaras. Só que os bárbaros, neste caso, não são os quem impunham espadas e lançam. São os que erguem a hóstia aos Céus.