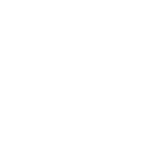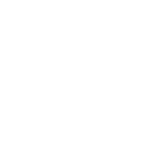Ícone da Nouvelle Vague, o cineasta Jean-Luc Godard, morreu na manhã de ontem, aos 91 anos, na Suíça, seu país natal. Ele teve acesso ao recurso do suicídio assistido, uma prática legal naquele país. Segundo familiares e amigos próximos, sua morte foi uma opção diante do cansaço que sentia. "Ele não estava doente, apenas esgotado. Foi decisão dele e é importante que se saiba", disse a família ao jornal francês Libération.
No império do efêmero que o mundo midiático virou sob o garrote das fake news, Jean-Luc Godard, responsável por injetar poesia na semiologia, saiu de cena pela ribalta da serenidade, deixando como legado 118 filmes (entre curtas e longas) e mais 12 produções para a TV (entre séries e especiais), numa obra eternizada a partir de "Acossado" (1960) como um farol revolucionário. Morreu aos 91 anos. A informação de sua morte veio da mulher do diretor, a cineasta e produtora suíça Anne-Marie Mieville. "Jean-Luc Godard morreu pacificamente em casa, cercado por entes queridos", informou em comunicado enviado à imprensa francesa, sem entrar em detalhes sobre a opção do realizador de "Alphaville" (Urso de Ouro na Berlinale de 1965) pelo suicídio assistido.
Foi no próprio Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, que aconteceu sua mais recente aparição nas telas, no premiado À vendredi, Robinson", da diretora Mitra Farahani, ganhador de uma láurea especial do júri da mostra Encontros. Ao forçar, no sentido mais gentil possível do termo, uma interseção de saberes entre dois artistas multidisciplinares nonagenários - de um lado o cineasta e escritor iraniano Ebrahim Golestan; do outro, Godard -, Mitra, egressa de Teerã, deu à 72ª Berlinale, uma carta de amor à dimensão filosófica do audiovisual. Nada pode ser mais godardiano do que isso. Numa alusão à literatura de Daniel Dafoe (1660-1731) e seu consagrado "Robson Crusoé" (1719), a cineasta pinta seus dois objetos de estudo como figuras insulares. Isolaram-se do mundo num insulamento lírico, a fim de criar sistemas semióticos e não narrativas. Durante uma série de sextas-feiras, os dois trocam mensagens sobre o estado de coisas do mundo, numa correspondência recriada poeticamente nesse .doc ainda inédito em nosso circuito.
Logo que adentrou no terreno dos longas, Godard ganhou o prêmio de melhor direção em Berlim, numa coroação de "Acossado". Este ano, ele ainda entrou no cardápio Berlinale Classics com "Nossa Música" ("Notre Musique", 2004), que regressa em cópia nova, prestes a rodar o planeta, começando pela França, onde ele construiu sua trajetória, como crítico e como artista visual. "As pessoas vivem a me perguntar sobre o que houve no mundo em 1968, mas eu ando bem ocupado a viver o agora. Fiz, sim, parte daquele tempo, quando não se aprendia cinema em escolas, mas sim vendo filmes… às vezes os filmes mais obscuros… e tentando extrair sentido deles, isolando cada imagem", afirmou o cineasta em Cannes, em 2018, ao ser premiado com uma Palma Honorária por "Imagem e Palavra" (2018).
Em outubro de 2019, a "Cahiers du Cinéma" dedicou sua capa ao diretor suíço (nascido em Paris, em 1930) de carona na chegada de "Imagem e palavra" a um pequeno circuito francês e ao menu da Netflix. "Le livre d'image" - com cenas do clássico "Johnny Guitar" (1954), de Nicholas Ray, em seu explosivo miolo semiótico. A reportagem é fruto de um delicado trabalho dos críticos Stéphane Delorme Joachim Lepastier, que bateram um longo papo com o filósofo da cinemática. A dupla arranca dele reflexões sobre realizadores que merecem uma revisão (como Frank Borzage, de "Depois do casamento" e "Homens de Amanhã") e sobre atrizes capazes de desafiar paradigmas dos códigos de naturalismo (como Adèle Haenel). E fala muito, durante a conversa, sobre dogmas da produção digital.
Há quatro anos, em Cannes, o homem por trás de joias como "O Desprezo" (1963) concedeu uma coletiva de imprensa virtual via Facetime. Ele recusou-se a sair do pequeno escritório onde trabalha, na Suíça, e conversou com a imprensa por Skype, abrindo reflexões sobre o onipresente imperialismo do cinema americano. Enfim, é o que ele sempre fez, desde "Acossado".
"Falam por aí que o cinema acabou, mas teve um produtor que quis me bancar e há um festival como Cannes, e como Berlim, interessado em me exibir. Talvez a presença de um filme como 'Imagem e Palavra' em Cannes seja apenas ação publicitaria, pois eu não sei se tem lugar para ele, e para mim, nas salas de exibição. Mas, na minha idade, o que me interessa é falar do que eu observo nos processos sociais: palavras não são um sinônimo de linguagem, pois linguagem é um conjunto de procedimentos de como empregamos signos. O problema é que as pessoas articulam esses signos sem a coragem de fantasiar o que aconteceria se as convenções fossem usadas de outra maneira. Eu faço filmes porque ainda tenho coragem", disse o mais emblemático e polêmico representante da Nouvelle Vague, que concedeu uma live, em plena pandemia, para repensar a urgência do cinema em tempos de crise.
Seu "the end" é mais um happening de uma estrada pavimentada pela invenção.