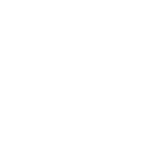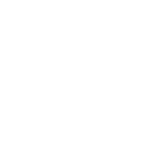Sua volta ao cinema, depois de uma sólida passagem pela competição oficial de Cannes com "Firebrand", é feita por duas narrativas que parecem falar de sua "argelinidade", a identidade de suas raízes paternas. Que sensação de pertencimento nasce de "Nardjes A." e de "O Marinheiro das Montanhas"?
Karim Aïnouz: Minha identidade é muito plural, pois, por meio dos laços com minha mãe, eu levo o Ceará sempre comigo. Esses dois filmes me permitiram ver tudo o que se passou com a Argélia, para que ela se emancipasse politicamente, e falar do apagamento da memória, que é um mal constante no Brasil. Fui atrás da minha mitologia. Com o tempo que se passou e com esse lançamento casado, esses olhares se conversam. Já estou trabalhando num terceiro filme, agora de ficção, sobre a relação entre meus pais.
Desde "O Céu de Suely" (2006), o seu cinema tem um protagonismo feminino forte. Você volta com um documentário sobre uma ativista, a Nardjes, e com outro que parece ser sobre o seu pai, mas, na prática, é movido pela (oni)presença de sua mãe. Que mulheres são essas?
Vi um anúncio do "Nardjes A." no Circuito Estação em que uma foto da ativista parece o rosto da minha mãe. A questão que me movia aí é falar da relevância da mulher num mundo que parece ser oprimido pelos homens. Colocar minha mãe lá era uma experiência que parecia importante.
Além dessa tal "argelinidade", haveria alguma demarcação da sua identidade como árabe nesses dois filmes?
Se eu me chamasse Pedro Aïnouz e, nãoo, Karim, eu não teria essa necessidade de investigar o meu passado como tive, pois eu passei a vida ouvindo: "Mas como é mesmo o nome do senhor?". Mas eu me chamado Karim, um nome árabe, que, no Brasil, parece nome de alien. A legitimidade veio daí, ainda que eu venha de uma origem berbere. Não por acaso, a partir de 2001, com o 11 de Setembro, meu nome passou a ser uma bandeira vermelha, pois onde quer que eu fosse, eu era revistado. A identidade por trás desse nome passou a simbolizar perigo. Existem muitas histórias desses povos da África do Norte, sobretudo em suas lutas de libertação, que a gente desconhece. Meu cuidado foi de conta-las sem romantizara realidade. A ideia era apenas falar de um povo que lutou para ser o dono de seu próprio destino, fazendo um espelhamento disso com a realidade do nosso país na época em que os filmes ficaram prontos, pós-Golpe.
"Nardjes A." estreou na Berlinale de 2020 e "O Marinheiro das Montanhas" foi projetado no Festival de Cannes de 2021, ou seja, ambos nasceram num período em que a democracia brasileira estava na UTI, na metástase do governo Bolsonaro. Como é revê-los agora?
Fazer esses filmes naquele momento me dava a sensação de que, enquanto o nosso país estava em coma, tinha alguém indo para a academia se cuidar, reivindicado nossa liberdade democrática. Numa fase de profunda desesperança que vem com o Golpe, esses filmes foram uma válvula de escape. Agora, estamos saindo do hospital com rapidez de cicatrização. Mas a sensação que me bate é de que não podemos baixar a guarda
Você acaba de rodar "Motel Destino", com Fábio Assunção, no Ceará. O quanto a experiência recente com narrativas de essência documental, mas de espírito ensaísta, ligadas às suas raízes familiares, contamina a sua forma de fazer ficção?
Fiquei muito contaminado que "O Marinheiro das Montanhas" me trouxe. Foi uma experiência muito tesuda ter a chance de decidir que uma sequência toda poderia ser toda feita num tom azul sem precisar de uma explicação para essa escolha. É como num poema, em que uma determinada palavra vem antes da outra sem uma justificativa racional. É diferente de uma ficção, em que tudo é pautado pela narrativa, o que te obriga a ser obediente à trama. Essa liberdade que "O Marinheiro..." me deu permitiu que eu fizesse "Firebrand" mais emancipado, encarando um filme sobre a monarquia britânica histórica de forma mais livre. Fui livre para "Motel Destino" também. Abri meu segundo tempo na arte com esse sentimento.
Falando de "Firebrand", o filme vai estar no Festival do Rio. Quem e como é Catherine Parr, a personagem de Alicia Vikander?
Quando esse projeto me foi proposto, falavam pra mim assim: "É a história da primeira mulher que publicou um livro na Inglaterra". Isso é um dado relevante. Catherine fez isso. Mas não era a esse gesto que eu queria reduzi-la. Queria falar desse filme a partir de uma perspectiva política. Olhando a relação dela com as figuras de poder de seu tempo, na relação com aquele rei vivido pelo Jude Law, eu tenho a sensação de que estou falando de uma mulher que se casou com o Trump e foi amiga do Che Guevara. É uma mulher que está num trapézio político da História.