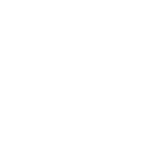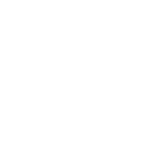Polícia é para garantir a segurança da sociedade, não para criar e repetir situações que levem à morte de cidadãos como a contadora Alessa Brasil Vitorino e a médica Gisele Mendes de Souza e Mello, capitão de mar e guerra da Marinha.
Ambas foram baleadas em meio a mais uma rodada das intermináveis e inúteis operações da polícia fluminense. Só em favelas do Complexo da Maré, onde Alessa, de 30 anos, morreu, houve, nos 11 primeiros meses do ano, 60 incursões policiais, uma a cada 5,5 dias. No Complexo do Lins, que cerca o Hospital Naval Marcílio Dias, onde Gisele foi alvejada, houve 11 operações, uma por mês.
Dezenas de pessoas foram mortas — inocentes, policiais e bandidos -, escolas tiveram que ser fechadas por cerca de 30 dias, a circulação em vias expressas ficou interrompida, houve pânico generalizado, o atendimento em postos de saúde foi suspenso.
Mas criminosos continuam a dominar essas favelas, não deixaram de receber drogas, armas e munição. Enquanto a polícia se concentra na repressão ao varejo, as organizações criminosas agem como grandes empresas, movimentam uma quantidade inimaginável de recursos, espalham-se pelo país, operam sofisticados mecanismos de lavagem de dinheiro, corrompem agentes do Estado, não apenas policiais.
A insistência num modelo de atuação focada na ponta — e isso acontece em todo o país — revela a opção preferencial pela pirotecnia, pelo discurso fácil do combate sem tréguas à criminalidade.
Uma falácia apoiada até por falsas versões da medida do Supremo Tribunal Federal limitou operações em favelas fluminenses que, em tese, só podem ocorrer em casos excepcionais. Em outubro passado ocorreram 111 dessas incursões, 3,5 por dia; em novembro — mês do G20, quando a segurança foi reforçada por tropas federais — 54 (1,8 por dia).
No caso da operação da Maré, a polícia usou de novo o argumento de que bandidos estariam matando inocentes para colocar a opinião pública contra o Estado. É difícil saber como se chegou a essa conclusão, mas não se pode exigir ética de criminosos. Não dá pra fazer um trato com traficantes e milicianos, estabelecer o que pode e o que não pode.
Cabe ao Estado prever as situações de risco, e tratar de evitá-las, de minimizá-las. Não é normal que policiais entrem todos os dias em locais densamente povoados para enfrentar bandidos armados de fuzis e metralhadoras. Isso é algo complicado até em situações de guerra contra um país inimigo.
Não se trata de propor o imobilismo, a rendição. Mas é preciso que o poder público reconheça que perdeu essa disputa, que há décadas investe num modelo que não dá certo. As polícias receberam armamento de guerra, carros blindados foram incorporados às suas frotas, houve alguma melhoria salarial — e as organizações criminosas prosperaram como nunca.
O crime ameaça o país institucional. Não é razoável que policiais se sintam livres para matar, como na Bahia, em São Paulo e em tantos estados; não se pode admitir que as vias de acesso ao principal aeroporto do Rio, capital do nosso turismo, sejam áreas de risco; o país não é a Síria, não está em guerra.
Não adianta cercar as favelas do Lins, colocar tanques da Marinha por lá. É preciso implantar uma política de segurança voltada para os cidadãos (as UPPs mostraram que isso é possível), buscar uma radical redução de danos, interromper o fluxo de armas e de munição, punir policiais e agentes públicos comprados pelo crime e seguir o dinheiro sujo que move toda essa engrenagem.
E, principalmente, é fundamental gerar esperança concreta para tantos jovens que, ainda muito cedo, partem para o desespero, para o crime, e muitas vezes, acabam com tantas vidas — inclusive com as deles.